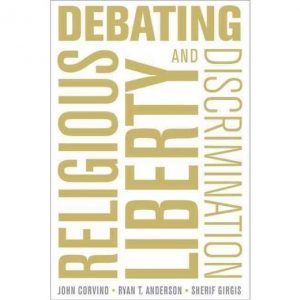Debating Religious Liberty and Discrimination (John Corvino, Ryan T. Anderson e Sherif Girgis, USA, Oxford University Press, 2017)
As sociedades atuais apresentam relevantes conflitos de visões. Alguns dos mais complexos relacionam-se com discriminação e liberdade religiosa. Ainda que não seja novidade a existência de debates sobre estes assuntos, com as mudanças na concepção sobre família e casamento novas polêmicas surgiram e ainda irão emergir, não raro afetando a vida e o cotidiano de pessoas.
O livro Debating Religious Liberty and Discrimination merece atenção daqueles que refletem e se engajam nestas questões, mesmo que baseado na experiência concreta americana.
Inclusive, considerando que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo se deu de forma similar, por meio das Cortes Constitucionais (Obegerfell v Hodges, e ADI 4277 e ADPF 132), o pano de fundo dos novos debates é similar nos dois países.
A obra não trata diretamente do casamento entre homossexuais, mas é a partir do reconhecimento legal da união entre pessoas do mesmo sexo que surgem novos conflitos relativos à tolerância, liberdade religiosa e discriminação.
O livro foi escrito em forma de debate. John Corvino militou pela legalização do casamento gay. Ryan T. Anderson e Sherif Girgis advogaram pela manutenção da visão tradicional do casamento.
Nesse novo debate, porém, não existem apenas dois lados. Os três jovens autores concordam em diversos pontos, mas divergem em questões essenciais. Todos são favoráveis à garantia da liberdade religiosa e contrários à discriminação. A controvérsia está na definição e nos limites destes conceitos.
Corvino destaca que as tentativas de se garantir objeções de consciência para indivíduos e grupos religiosos que se opõem ao matrimônio de pessoas do mesmo sexo não raro configuram privilégios, implicando a legalização da liberdade para discriminar homossexuais. No mais, em um país plural como os Estados Unidos, se todas as acomodações morais e religiosas fossem admitidas, as pessoas se tornariam “leis para si próprias”, impondo inúmeros danos e ônus a terceiros, e a própria força de normas que deveriam se aplicar a todos acabaria enfraquecida.
Anderson e Girgis, por sua vez, defendem que os direitos de consciência e a integridade moral dos cidadãos são valores intrínsecos e fundamentais a serem tutelados pelo Estado. A liberdade religiosa corre risco de ser anulada a partir de leis anti-discriminação, que, na verdade, representariam um “novo puritanismo”, perseguindo aqueles que moral ou religiosamente se opõem ao novo modelo familiar.
As visões opostas dos autores são ilustradas ao longo do livro por diversos conflitos que têm surgido nos Estados Unidos, a maioria após o caso Obegerfell. Estas situações trazem ao debate de temas como: um oficial de registro ou um juiz poderia se recusar, por razões religiosas, a reconhecer um casamento entre pessoas do mesmo sexo? Confeitarias e floriculturas que, por objeção de consciência, se recusem a fazer bolos ou arranjos de flores para casamentos entre homossexuais devem ser multados? O Estado deve permitir a existência de agências de adoção católicas que somente atendem casais heterossexuais, garantindo maiores chances de adoção a crianças, ou estas devem ser proibidas de atuar?
Um dos casos apresentados no livro e que ilustra a complexidade do debate é o de Barronelle Stutzman. Stutzman empregava gays e lésbicas em sua floricultura e por 10 anos vendeu arranjos de flores para um casal homossexual que posteriormente a processou. Ela não tinha objeções a pessoas homossexuais[1], faria arranjos para o aniversário de seus clientes ou mesmo para que um presenteasse ao outro, mas acreditava, por motivos religiosos, que o casamento somente era possível entre pessoas de sexos opostos. Quando seus clientes lhe pediram para fazer o arranjo de flores para seu casamento, ela se recusou e foi processada.
Em uma sociedade plural, com diversas opções de floriculturas disponíveis, Stutzman deveria ter garantido seu direito de atuar conforme sua visão cristã? A recusa dela é discriminatória? Nesses novos casos a objeção de consciência deve ser garantida, como se fez com a questão do aborto, ou estes comportamentos são equiparados à discriminação por racismo? São questões como esta que têm emergido nos Estados Unidos, sendo que a Suprema Corte recentemente se pronunciou em um caso envolvendo um confeiteiro cristão que se recusou a fazer um bolo de casamento para um casal de homens (Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission). A decisão foi favorável ao confeiteiro, mas, em razão de peculiaridades do caso, não solucionou de forma geral os debates tratados no livro, que provavelmente retornarão à Corte.
O mesmo debate deve ganhar volume no Brasil nos próximos anos, afetando diretamente indivíduos, igrejas, clubes, escolas e empresas. Contudo, não deixa de chamar a atenção de quem lê o livro que a intensidade dos conflitos surgiu de forma muito mais rápida e extrema nos Estados Unidos, quando no Brasil também existe relevante divisão quanto a estes assuntos[2]. O brasileiro seria mais tolerante e dialogaria melhor, criando consensos e acomodações? Ou será que não nos levamos tão a sério como os americanos?
De qualquer forma, outro ponto de destaque do livro é a capacidade de seus autores de manterem um diálogo civilizado mesmo divergindo em diversos temas sensíveis. O próprio livro, como um exercício de tolerância – no sentido verdadeiro de respeito àqueles que discordam de nossas crenças mais importantes – parece ser um dos caminhos para se buscar soluções possíveis e não excludentes em nossas sociedades divididas.
[1] https://www.seattletimes.com/opinion/why-a-good-friend-is-suing-me-the-arlenes-flowers-story/
[2] http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/09/maioria-e-contra-legalizar-maconha-aborto-e-casamento-gay-diz-ibope.html
Editores IFE São Paulo