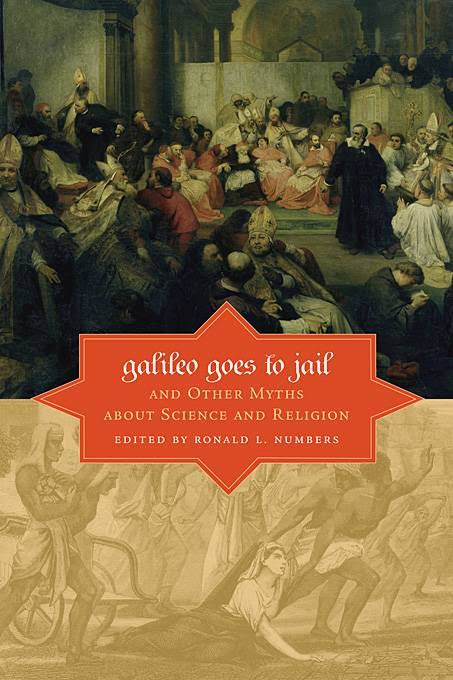Libertação dos Escravos, 1889, Pedro Américo.
“Não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir sua obra.” Esta é uma das frases mais célebres do abolicionista Joaquim Nabuco, e em si mesma, tem poder explicativo. Talvez por essa constatação, ao fazermos memória dos 130 anos da Lei Áurea pensemos que ainda há um longo caminho a percorrer. Sendo assim, ao olhar o passado como um espaço de nossa experiência presente, surgem perguntas sobre como se deu a abolição da escravidão no Brasil e quem foram os protagonistas dessa história.
Hoje em dia, no meio intelectual, predomina ainda o debate maniqueísta. De um lado estão aqueles que obscurecem ou suprimem o papel dos escravos como agentes de sua própria libertação, do outro os que subestimam a importância da conjuntura internacional, da política de ações governamentais e das personagens imperiais no processo, sobretudo a atuação da Princesa Isabel. Tais posturas repercutem num embate que perpassa as arcadas acadêmicas e ecoa também entre os leigos e o público em geral.
Estudos das duas últimas décadas demonstraram que escravos não eram simplesmente peças de um sistema ou de um “modo de produção”. Apesar dos sérios condicionamentos, eles exercitavam o livre arbítrio e agiam de modo a buscar a liberdade nas brechas do sistema. Há vários exemplos de trabalhos fundados em extenso material de pesquisa guardado em arquivos sobre esse procedimento, e não é difícil mencionar alguns deles. O historiador João José Reis tratou com propriedade da dimensão da Revolta dos Malês, ocorrida em 1835 em Salvador. Um grande movimento de rebelião impartido pela associação de escravos e libertos em sua grande maioria originários do Golfo de Benin, no sudoeste da atual Nigéria. Unidos pela religião islâmica e comunicando-se através do árabe, tentaram implantar uma república negra em certo paralelismo com os moldes da revolução no Haiti ocorrida décadas antes. Uma ameaça à ordem política local. A partir de 1871 com a Lei do Ventre, os escravos, sobretudo os que viviam na cidade, destacaram-se em seu protagonismo ao negociar a liberdade com seu senhor através do chamado “pecúlio”. Tratava-se de uma quantia que o escravo poderia acumular para comprar sua liberdade. Era fruto de parte do dinheiro obtido com o trabalho de venda de quitutes, temperos, refrescos nas ruas e de serviços de barbeiro. Muitos compraram assim sua alforria. Há inclusive o famoso e curioso caso citado pela historiadora Mary Karasch do astuto cativo no Rio de Janeiro que, durante o período em que juntava seu pecúlio, comprou outro escravo para assim acelerar o processo de compra da liberdade. Ao ver-se livre, gozava, ao mesmo tempo, de nova propriedade. Ao que se sabe, o pecúlio foi aceito pelos senhores a fim de impedir a fuga dos escravos.
No entanto, a própria conjuntura diplomática e o que alguns chamariam de “atuação da elite” tem lá seu peso na História. Dom Pedro II deixou-se influenciar diretamente pela grande potência do século XIX, a Inglaterra industrial. O poderio inglês era nítido no Brasil desde a chegada da família real portuguesa, que, aliás, fugira de Napoleão Bonaparte escoltada pela esquadra inglesa. A Inglaterra, pasmem, foi pioneira na abolição do tráfico humano de africanos e da escravidão. Sobre o porquê disso, já antecipamos que há divergências que deixaremos para discutir em outra ocasião. De todos os modos, especialistas internacionais não se contentam mais com a explicação de que a escravidão emperrava os interesses capitalistas ingleses, já que escravo “não consumia”. O site The Aboltition Project evoca essa versão, através de fontes históricas. (http://abolition.e2bn.org/index.). Pelo contrário, o uso do trabalho escravo nas colônias britânicas ia ao encontro e complementava os exorbitantes lucros da indústria. Prova disse foram os esforços descomunais que um grupo liderado pelo político Wiliam Wilbforce teve que empreender, sobretudo no parlamento, em 25 de março de 1807, para abolir primeiramente o tráfico de escravos. Deve-se ressaltar que desde 1792, Wilbforce vinha tentando incansavelmente e sem nenhum êxito aprovar projeto pelo fim daquele comércio na Câmara dos Comuns. Idealista incansável, espirituoso, filantropo e preocupado com a situação social de seu tempo de modo inédito para a época, o parlamentar conheceu Thomas Clarckson um intelectual de raízes cristãs quackers, que em 1785 em Cambridge venceu um concurso de ensaios, com um trabalho denominado na tradução ao português “É legal escravizar aquele que é inconsciente dessa condição?” Ao terminar o ensaio, Clarckson, que era muito místico, disse que por acreditar firmemente no conteúdo de sua obra tinha o dever em consciência de dedicar todas sua vida para a abolição do tráfico de escravos. E assim o fez. Primeiro publicou o escrito em forma de panfleto o que garantiria uma rápida e popular divulgação. Formou junto com outros quackers o Comitte for the Abolition of Slave Trade, que não obteve êxito político até a parceria com Wilbforce, no final do século XVIII. O Comitê divulgou aos quatro ventos a história de vida de Olaudah Equiano, ex escravo que comprou a liberdade em 1763 e escreveu uma autobiografia contando os horrores da escravidão. Somente em 26 de julho de 1833, três dias antes da morte de Wiliam Wilbforce, os ingleses aprovaram com muito custo o projeto de abolição da escravidão mediante indenização paga aos senhores.
Essa corrente de ideias inglesas de teor mais humanístico e cristão influenciou também a luta pelo fim da escravidão através da via parlamentar no Brasil. Já no final da década de 1860, o jovem Joaquim Nabuco traduzia para seu pai Nabuco de Araújo, ministro da justiça e relator da Lei pela Emancipação Gradativa ou Lei do Ventre Livre, jornais ingleses que tratavam da luta na Inglaterra e no mundo pelo fim da escravidão, entre eles o Anti-Slavery Reporter. Em 1868, Nabuco de Araújo, então, incluiu pela primeira vez num programa de partido brasileiro a proposta da emancipação gradativa.
O Império temia ficar excluído das redes de relações diplomáticas europeias, já que a partir de finais da década de 1860, as chamadas “nações civilizadas” viam como maus olhos países que tinham escravos como principal força de trabalho. Era como se vivessem uma fase superada já há tempos pelos membros do velho continente. Foi a partir dessa preocupação que em 1867, D. Pedro II enfatizou, em uma de suas Falas ao Trono, a necessidade de pensar a substituição do “elemento servil”, eufeminismo usado para evitar usar expressões que evocassem a barbárie (escravo.)
Durante a viagem do pai a Europa, a Princesa Regente Isabel Cristina, provavelmente de comum acordo com o monarca, aboliu a escravidão pela pena. A participação do arcebispo Dom José Pereira da Silva Barros, capelão-mor de dom Pedro II, conhecido como “o bispo abolicionista” parece ter provocado forte influência na princesa, conforme atesta partes do seu diário e de uma de suas missivas publicada na Revista do Instituto Archeológico e Geográfico de Pernambuco em 1891.
Alguns historiadores viram uma atitude oportunista de Isabel, já que, afirmaram eles, a escravidão já estava falida, restando pouca mão de obra escrava ativa em 1888. No entanto, há pelo menos dois fatores que podem levar inverter a reflexão. Em primeiro lugar é evidente que através desse ato Isabel colocou em risco a sobrevivência do sistema imperial. Não o faria se não fosse por convicção. A famosa máxima do Barão de Cotegipe por ocasião da proclamação da Lei Áurea atesta o fato. Dirigindo-se a princesa afirmou: “Libertaste uma raça, mas perdeste a coroa.” De fato no ano seguinte, o Império foi abaixo pelo golpe republicano de 1889.
Em segundo lugar, quase todos possuíam escravos no Brasil. Apesar da recente substituição da força de trabalho escravo pelo assalariado, os grupos de proprietários do Sudeste sentiram-se ameaçados pela nova lei. Segundo o mesmo Joaquim Nabuco em Minha formação, o grupo de fazendeiros do Vale do Paraíba chegou ameaçar apoiar à República caso a lei viesse à tona. Ademais, a adesão explícita da princesa ao catolicismo romano incomodava as elites liberais.
Sendo assim, propõe-se a consideração de um equilíbrio historiográfico. Os africanos e seus descendentes escravos poderiam não ter a liberdade de ir e vir, mas conservavam a liberdade interior da escolha e empreenderam importantes ações em busca da abolição da escravidão. O livre – arbítrio nunca foi atributo apenas dos senhores ou dos escravos, é dom estrutural da humanidade. Percorrer o caminho até o fim da escravidão foi tarefa desempenhada pelos próprios escravos, mas também o foi pelos personagens da monarquia por aqueles pertencentes a extratos intelectuais ou parlamentares, influenciados pelas ideias e pela conjuntura estrangeira. O passo foi dado em 1888, embora ainda há muito o que fazer para acabar com a “obra de escravidão”.
A riqueza da História reside em superar a esfera de heróis e vilões e adentrar à investigação meticulosa e profunda sobre os motivos pelos quais se moviam cada um desses personagens, que a nossos olhos podem parecer mais ou menos nobres. Tal ação exige rigor na investigação e a busca de informações em fontes primárias que nem sempre reafirmam convicções políticas pessoais do historiador e, por ora, podem até contrariá-las. Se por um lado, a hipóteses iniciais instauradas no início da pesquisa podem ser desconstruídas pela pesquisa documental, por outro enriquecem o nosso entendimento sobre humanidade, contingência e liberdade ….e História é justamente isso e não outra coisa!
Beatriz Momesso é Historiadora pela UNICAMP, professora e doutora em História pela UERJ. Pesquisa, entre outros, historiografia oitocentista e jornalismo político. Atualmente, exerce atividades de docência e de pesquisa como bolsista de Pós-Doutorado na Universidade Federal Fluminense (UFF).