
Friedrich August von Hayek em 1981.
Um sistema de governo que, em teoria, pode parecer extremamente
vantajoso para a sociedade, bem pode revelar-se, na prática,
totalmente pernicioso e destrutivo.
David Hume
Um dos espetáculos mais desalentadores de nosso tempo é ver
até que ponto algumas das coisas mais preciosas que a Inglaterra […]
legou ao mundo agora são desprezadas na própria Inglaterra.
Friedrich A. Hayek
Fomos os primeiros a afi rmar que, quanto mais complexas as
formas assumidas pela civilização, mais restrita deve tornar-se a
liberdade do indivíduo.
Benito Mussolini
Na verdade, Benito, você não foi o primeiro. Os louros pela promulgação desse princípio em toda a sua atrocidade moderna vão para V.I. Lênin, que já em 1917 se vangloriava de que, quando terminasse de construir o seu paraíso dos trabalhadores, “a sociedade inteira se terá tornado um só escritório e uma só fábrica, com igualdade de trabalho e igualdade de salários”.
O que quer que Lênin não soubesse acerca da restrição das liberdades individuais, certamente não valia a pena sabê-lo. Tudo bem, as coisas não andaram exatamente do modo como ele esperava – ou dizia esperar -, uma vez que, à medida que a União Soviética avançava aos trancos e barrancos, havia cada vez menos trabalho e salários cada vez mais desvalorizados. (Aceita trocar alguns destes dólares por rublos, camarada?). Na prática, a única igualdade que Lênin e seus herdeiros conseguiram foi a igualdade na miséria – o empobrecimento para todos, com exceção de uma minúscula e variável porcentagem da nomenklatura.
Trotsky foi direto ao ponto prático em jogo ao comentar que, quando o Estado é o único empregador, o velho adágio “quem não trabalha, que não coma” é substituído por “quem não obedece, que não coma”. Mesmo assim, os intelectuais ocidentais organizaram uma longa fila para virem, verem e serem conquistados: quantos escritores, jornalistas, artistas e ensaístas bien pensants não caíram de amores pela URSS, como Lincoln Steff ens, que dizia da sua visita de 1921: “Passei pelo futuro, e ele funciona”!
Evidentemente, não se pode fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Mas é notável a imensa pilha de cascas de ovos que amontoamos ao longo do último século. (Além de que sempre há a pergunta constrangedora de Orwell: “E onde é que está o omelete?”). Já não lembro quem foi o sábio que descreveu a esperança como o último dos males que restou no fundo da caixa de Pandora; talvez tenha sido injusto para com a esperança, mas o dito não é de todo inadequado àquela adamantina “fé em um mundo melhor” que sempre habitou o coração da empreitada socialista. E venham falar-me de plantas resistentes a todos os climas! A experiência socialista nunca funcionou como anunciaram, mas continua sempre a florir no coração humano – ao menos nas parcelas colonizadas pelos intelectuais, aquela tribo palpitante que Julien Benda memoravelmente denominou “clercs”, como na expressão “trahison des”. Mas por quê? Que têm os intelectuais que os torna tão prodigamente suscetíveis ao canto de sereia do socialismo?
Em seu último livro, The Fatal Conceit [1]. The Errors of Socialism (“A vaidade fatal. Os erros do socialismo”, 1988), Friedrich Hayek sublinhava com ironia esse paradoxo:
“A vã busca dos intelectuais por uma comunidade verdadeiramente socialista, que resultou primeiro na idealização de uma seqüência aparentemente interminável de ‘utopias’ – União Soviética, depois Cuba, China, Iugoslávia, Vietnam, Tanzânia, Nicarágua – para depois acabar na desilusão com todas elas, deveria ser suficiente para sugerir que há alguma coisa no socialismo que não bate com certos fatos”.
Deveria, mas não o fez. E o motivo, sugere Hayek, está no tipo peculiar de racionalismo em que uma certa espécie de intelectuais está viciada. A sua “vaidade fatal” consiste em crer que, pelo exercício da razão, a humanidade seria capaz de reformar a sociedade de um modo que fosse a um só tempo eqüitativo e próspero, ordenado e orientado para a liberdade política.
Hayek identifica esta ambição já em Rousseau e, antes dele, em Descartes. Se o homem nasce livre, mas em todo lugar encontra-se acorrentado – afirmava Rousseau -, por que simplesmente não rompe seus grilhões, a começar pelo fardo incômodo das restrições sociais tradicionais? Talvez se possa discutir se Descartes merece ser citado como réu na ação de paternidade por essa afirmação, mas entendo o que Hayek quer dizer. Do sonho cartesiano de fazer do homem o “senhor e dominador da natureza” por meio da ciência e da tecnologia, faltava apenas um pequeno passo para fazer dele o senhor e o possuidor da segunda natureza do homem, a sociedade. Tudo o que resistisse a isso na experiência humana e no mundo tinha de ser tornado líquido e negociável para poder sequer enveredar por esse caminho! Tudo o que se resumia em palavras como “bons modos”, “moral”, “costumes”, “tradição”, “tabu” e “sagrado” foi subitamente posto à venda. Mas é inerente à natureza embriagadora da vaidade fatal – ao menos, mais uma vez, para os que são suscetíveis aos seus encantos – que nenhum obstáculo pareça forte o suficiente para se opor à sedução exercida pelas engenhosas prestidigitações da humanidade. Segundo o célebre dito de Marx, “tudo o que é sólido dissolve-se no ar”.
John Maynard Keynes – ele mesmo uma vítima patente da vaidade fatal – resumiu
o metabolismo psicológico desse orgulho na sua descrição de Bertrand Russell e dos seus amigos de Bloomsbury:
“Bertie, concretamente, sustentava ao mesmo tempo duas opiniões disparatadamente incompatíveis. Afirmava que na prática os negócios humanos são conduzidos de um modo absolutamente irracional, mas que o remédio para isso era extremamente simples e acessível, uma vez que tudo o que tínhamos de fazer era conduzi-los de maneira racional”.
Que prodígios de prestidigitação existencial não se ocultam nesta frase “tudo o que tínhamos de fazer”. F. Scott Fitzgerald afirmou certa vez que o teste para “uma inteligência de primeira categoria” era “a habilidade de sustentar duas idéias opostas na mente ao mesmo tempo”, e ainda assim ser capaz de funcionar. A bem da verdade, esta habilidade é tão comum quanto o pó. Olhe à sua volta.
Friedrich Hayek (ele abandonou o “von” com o qual nascera) era um esplêndido anatomista desta espécie de desvarios intelectuais ou intelectualistas. Nascido em uma próspera família de Viena em 1899, Hayek já havia forjado para si um modesto renome como economista quando partiu para a Inglaterra e a London School of Economics, em 1931. Ao longo da década seguinte, publicou meia dúzia de livros técnicos sobre economia (a título de amostra, Monetary Theory and the Trade Cycle – “A teoria monetarista e o ciclo comercial”). Mas sua vida mudou em 1944, quando The Road to Serfdom (“O caminho da servidão”), publicado primeiro na Inglaterra e alguns meses depois nos Estados Unidos, o catapultou rumo à fama.
O lançamento da nova edição do livro realizada pela Universidade de Chicago [2] – o segundo volume da série de vinte previstos para as “obras completas” – é uma boa ocasião para nos lembrarmos tanto da força da crítica de Hayek quanto da inamovível persistência das atitudes contra as quais argumentava. É preciso ter coragem, ou algo do gênero, para declarar que o produto que se oferece é “a Edição Definitiva”. “Definitivo”, nestas matérias, é um elogio enganoso e fugaz; no entanto, eu não hesitaria em descrever essa edição como excelente. As linhas mais longas fazem com que o texto seja levemente mais difícil de ler do que na bela Edição do Quinquagésimo Aniversário publicada pela mesma Universidade de Chicago, mas a nova edição corrige uma série de erros tipográficos e acrescenta um material suplementar útil, incluindo notas identificando os personagens citados por Hayek.
A história deste livro curto, mas extraordinário – que é menos um tratado de economia do que um cri de coeur existencial – é bem conhecida. Três editores o recusaram nos Estados Unidos – um dos analistas chegou a considerá-lo “inadequado para uma casa de boa reputação” – antes de a Universidade de Chicago, não sem uma certa hesitação, resolver assumi-lo. Um dos seus analistas, embora recomendasse a publicação, prevenia que o livro tinha pouca probabilidade de “atingir um mercado amplo neste país” ou de “mudar a opinião de muitos leitores”. Na hora H, porém, a Editora da Universidade de Chicago mal conseguiu atender à demanda. Em poucos meses, tinham sido impressos 50.000 exemplares. A seguir, o Reader´s Digest publicou uma versão condensada, que levou o livro a mais 600.000 leitores. E, alguns anos mais tarde, uma versão ilustrada da Look aumentou ainda mais o seu alcance.
Traduzido para mais de vinte línguas, O caminho da servidão transformou um acadêmico aposentado em uma celebridade internacional. Nos anos seguintes, a influência de Hayek passou por altos e baixos, mas na ocasião de sua morte, seis semanas antes de seu nonagésimo terceiro aniversário, em 1992, ele tinha-se tornado finalmente um dos “queridinhos” do establishment acadêmico. Fora professor na London School of Economics, na Universidade de Chicago e na Universidade de Freiburg, e recebera numerosos títulos honoríficos. Em 1974, recebeu o Prêmio Nobel de Economia – o primeiro economista defensor do livre mercado a receber esta honra -,
e as suas teorias ajudaram a estabelecer os alicerces intelectuais da revitalização econômica levada a cabo por Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos anos 80.
Em um sentido mais profundo, porém, Hayek permaneceu um outsider, às margens do filão principal dos meios intelectuais ou, ao menos, acadêmicos. A mensagem de O caminho da servidão mostra por quê. O livro tinha dois objetivos: por um lado, era um hino à liberdade individual; por outro, era um ataque vigoroso ao planejamento econômico centralizado e à diminuição das liberdades individuais que este tipo de planejamento impõe.
Na esteira das revoluções de Reagan e Thatcher, pode parecer estranho descrever um ataque ao planejamento centralizado ou uma defesa da liberdade individual como obra de um outsider. Na prática, porém, embora as teorias de Hayek tenham vencido “no campo de batalha” algumas escaramuças importantes, no mundo da opinião da elite intelectual as suas idéias são tão discutidas hoje como o eram em 1940. Ainda hoje, há uma vasta resistência ao principal insight de Hayek: o de que o socialismo é um berçário para o desenvolvimento de políticas totalitárias.
Com o exemplo da Alemanha Nazista diante dos olhos, Hayek pôde testemunhar com que naturalidade o socialismo, à medida que dissolve mais e mais a iniciativa individual para transferi-la para o Estado, se transforma pouco a pouco em totalitarismo. Uma das principais teses do livro é que a escalada do fascismo não foi uma reação contra as tendências socialistas dos anos 20, como freqüentemente se afirma, mas, pelo contrário, o resultado natural dessas tendências. O que tinha começado como a convicção de que o planejamento, se queria ser “eficiente”, tinha de ser “tirado dos políticos” e entregue aos especialistas, terminou com a falência da política e o abraço dado à tirania. “Hitler não precisou destruir a democracia”, observa; “ele simplesmente tirou partido da decadência da democracia e, no momento crítico, obteve o apoio de muitos que, embora o detestassem, nele viam o único homem forte o suficiente para fazer as coisas acontecerem”.
A Grã-Bretanha, alertava Hayek, já tinha percorrido longo trecho do caminho que conduz à abdicação socialista. “As conseqüências imprevistas mas inevitáveis do planejamento socialista”, escreve, “criam um estado de coisas no qual […] as forças totalitárias acabam levando a melhor”. E cita inúmeros ensaístas influentes que advogam frivolamente não apenas o planejamento econômico em grande escala, mas a rejeição aberta das liberdades. Em 1932, por exemplo, o influente teórico político Harold Laski afirmava que não se deve permitir que “a derrota nas urnas” crie obstáculos para o glorioso progresso do socialismo. Isso de votar está muito bem – desde que as pessoas votem certo, isto é, na esquerda.
Em 1942, o historiador E.H. Carr afirmava com entusiasmo que “o resultado desejado por nós só poderá ser conquistado por meio de uma reorganização deliberada da vida européia, tal como a que foi levada a cabo por Hitler”. O eminente biólogo e ensaísta C.H. Waddington também propunha que a sociedade fosse entregue nas mãos dos especialistas, observando que a liberdade “é um conceito muito problemático para merecer ser discutido pelos cientistas, em parte porque, em última análise, eles não estão convencidos de que exista tal coisa”. Sir Richard Ackland, arquiteto do “movimento Commonwealth“, escreveu com falsa simpatia que a comunidade diz ao indivíduo: “você não precisa preocupar-se de ganhar o seu sustento”; a “comunidade” como um todo cuidará disso, determinando como, quando e de que maneira cada indivíduo será empregado. Além do mais, acrescentava, ela também providenciará campos de trabalho para os vagabundos, mas não se preocupe, pois “a comunidade” cuidará de que ali reinem “condições bastante toleráveis”. Tal como Carr, Ackland achava muito o que admirar em Hitler, que, segundo dizia, tinha “tropeçado com […] uma pequena parte, ou talvez se devesse dizer um aspecto particular, daquilo que em última análise se exigirá da humanidade”. Isto, diga-se de passagem, foi escrito em 1941, em um momento em que o mundo estava descobrindo que seguir Hitler de fato exigia bastante da humanidade.
As duas grandes influências que presidiram à elaboração de O caminho para a servidão foram Alexis de Tocqueville e Adam Smith. De Tocqueville, Hayek tomou emprestado tanto o título quanto sua sensibilidade para aquilo que o pensador francês, em uma célebre passagem de A democracia na América [3], denominou “despotismo democrático”. Assim como Tocqueville, Hayek via que nas sociedades burocráticas modernas as ameaças à liberdade freqüentemente se apresentam disfarçadas de benefícios sociais. Se o despotismo à antiga tiranizava, o despotismo democrático infantiliza. “Seria semelhante”, escreve Tocqueville,
“ao poder paterno se, tal como ele, tivesse o escopo de preparar homens para a maturidade; mas, pelo contrário, busca apenas mantê-los irrevogavelmente fixados na infância; agrada-lhe que os cidadãos se divirtam, desde que pensem somente em divertir-se […]. Trabalha com gosto pela sua felicidade, mas quer ser o único agente e o árbitro exclusivo dela; provê segurança para todos, prevê e atende às suas necessidades, facilita-lhes os prazeres, conduz-lhes os negócios mais importantes, dirige os seus afãs, regula-lhes as propriedades, divide para eles as suas heranças; quem sabe não chegará a poupar-lhes inteiramente o problema de pensar e a dificuldade de viver? [… Esse poder] estende seus braços sobre a sociedade como um todo; cobre-lhe a superfície com uma rede de regras pequenas, complicadas, meticulosas e uniformes, através das quais as cabeças mais originais e as almas mais vigorosas não conseguem abrir caminho para sobressair da massa; […] não tiraniza, mas limita, compromete, enerva, extingue, entontece e, por fim, reduz cada nação a não ser nada além de um rebanho de animais tímidos e laboriosos que o governo pastoreia”.
Fazendo eco a Tocqueville, mas indo além dele, Hayek afirmava que os efeitos mais importantes da tutela abrangente por parte do governo eram psicológicos, “uma alteração do caráter das pessoas”. Somos as criaturas, bem como os criadores das instituições nas quais habitamos. “A questão fundamental”, concluía, “é que os ideais políticos de um povo e a sua atitude perante a autoridade são tanto o efeito quanto a causa das instituições políticas sob as quais vive”.
A maior parte de O caminho da servidão é negativa ou crítica. Pretende expor, descrever e analisar a ameaça socialista à liberdade. Mas há também um lado positivo na argumentação de Hayek: pode-se encontrar, diz ele, o caminho que afasta da servidão abraçando aquilo que denominava “a ordem estendida da cooperação” – em outras palavras, o capitalismo. Em A riqueza das nações, Adam Smith apontava o paradoxo, ou aparente paradoxo, do capitalismo: quanto mais se deixasse os indivíduos em liberdade para perseguirem seus próprios fins, mais as suas atividades seriam “conduzidas por uma mão invisível a promover” fins que auxiliassem o bem comum. Empreendimentos privados conduzem a bens públicos: eis a alquimia benéfica do capitalismo. O insight fundamental de Hayek, ampliando o pensamento de Smith, é que a ordem espontânea criada e mantida pelas forças de um mercado competitivo levam a uma prosperidade maior do que a economia planejada.
O sentimental não é capaz de envolver este dado com a sua mente ou o seu coração. Não é capaz de entender por que não deveríamos preferir a “cooperação” (expressão que soa bem) à “competição” (muito mais áspera), uma vez que em toda competição há perdedores, o que é ruim, e vencedores, o que pode ser ainda pior. O socialismo é uma versão do sentimentalismo. Mesmo um observador realista como George Orwell deixou-se infectar por ele. Em The Road to Wigan Pier (1937), Orwell argumentava que, uma vez que o mundo, “ao menos em potência, é imensamente rico”, se o desenvolvêssemos “como deve ser desenvolvido […], poderíamos todos viver como príncipes, supondo que o queiramos”. Deixemos de lado o fato de que ser príncipe implica, ao menos em parte, que os outros, a imensa maioria dos outros na verdade, não são da realeza…
O socialista, o sentimental, não consegue compreender por que, se as pessoas foram capazes de “gerar um sistema de regras para coordenar seus esforços”, não seriam igualmente capazes de, conscientemente, “projetar um sistema ainda melhor e mais gratificante”. Central ao ensinamento de Hayek é o fato indiscutível de que a ingenuidade humana é limitada, de que a elasticidade da liberdade exige a atuação de forças situadas além de nosso domínio, e de que, no fim das contas, as ambições do socialismo são uma expressão da hybris racionalista. Uma ordem espontânea gerada pelas forças de mercado pode ser tão benéfica à humanidade quanto você quiser; pode ter uma vida muito longa, e produzir – como de fato produziu – riquezas enormes que, há apenas algumas gerações, seriam inimagináveis. Mesmo assim, não é perfeito: os pobres continuam entre nós, nem todos os problemas sociais foram solucionados. No fim das contas, porém, aquilo que realmente custa aceitar na ordem espontânea produzida pelos mercados livres não é a sua imperfeição, mas a sua espontaneidade: o fato de ser uma criação que não nos pertence. Transcende a direção consciente da vontade humana e é, portanto, uma afronta ao orgulho humano.
A veemência com que Hayek condena o socialismo está na proporção direta do que está em jogo. Como explica em The Fatal Conceit, “a disputa entre a ordem do mercado e o socialismo é nada mais, nada menos que uma questão de sobrevivência”, porque “seguir a moral socialista destruiria grande parte da humanidade atual e empobreceria boa parte do resto”. Temos um aperitivo do que Hayek diz em toda a parte onde as forças do socialismo triunfam: nesses lugares, tal como a noite se segue ao dia, segue-se um crescimento da pobreza e uma diminuição
da liberdade individual.
O que intriga é que este fato tenha tido tão pouco efeito sobre as atitudes dos intelectuais. Nenhum mero desenvolvimento prático, ao que parece – repitamo-lo até a saciedade – é suficiente para minar os prazeres do sentimentalismo socialista. Esse distanciamento do mundo está ligado a outro traço comum nos intelectuais: seu desprezo pelo dinheiro e pelo mundo do comércio. O intelectual socialista despreza o “sórdido motivo do lucro” e recomenda o aumento do controle governamental da economia. Parece-lhe, nota Hayek, que “empregar cem pessoas é […] exploração, mas comandar o mesmo número [é] louvável”.
Não é que os intelectuais, como classe, não gostem tanto de ter dinheiro como todos nós. O que acontece é que olham toda a maquinaria do comércio como algo distante dos seus mais íntimos desejos, algo indescritivelmente inferior a eles. Evidentemente, há um certo sentido em que isto é verdadeiro. Mas muitos intelectuais não conseguem compreender duas coisas: primeiro, o fato de que o dinheiro, como diz Hayek, é “um dos maiores instrumentos de liberdade jamais inventados”, uma vez que abre “um leque inacreditável de opções ao homem pobre – um leque maior do que aquele que, há não muitas gerações, estava à disposição dos mais ricos”; segundo, a extensão em que a organização do comércio afeta a organização de nossas aspirações. Como aponta Hilaire Belloc em The Servile State, “o controle da produção de riqueza é o controle da própria vida humana”.
A questão realmente assustadora que a maioria dos planejamentos econômicos levanta não é se somos livres para ir atrás dos nossos fins mais importantes, mas quem determina quais devem ser estes “fins mais importantes”. “Quem quer que tenha o controle exclusivo dos meios”, observa Hayek, “também tem de determinar que fins devem ser buscados, quais os valores que devem ser preferidos e quais os desprezados – em uma palavra, aquilo em que os homens devem acreditar e pelo que devem lutar”. Assim, embora possa “soar nobre dizer, ‘que se dane a economia, vamos construir um mundo decente’, […] na verdade é mera irresponsabilidade”.
No fim das contas, o apelo socialista é um apelo emocional. E como um dos principais meios de expressão das nossas emoções é a linguagem, as perversões do socialismo têm seu correlato em uma perversão da linguagem. “Do mesmo modo que a sabedoria se encontra freqüentemente escondida sob o sentido das palavras”, nota Hayek, “o mesmo se dá com o erro”. Em conseqüência, a tarefa de defender a liberdade implica a tarefa de defender a linguagem.
Ao longo de seu trabalho, Hayek presta considerável atenção à “nossa linguagem envenenada”, mostrando como a sentimentalidade socialista distorceu quase a ponto de desfigurá-las palavras básicas como “liberdade” e “igualdade”. Para além de todo o significado definido que elas possam comunicar, essas palavras são elogiosas: solicitam automaticamente o nosso apoio, mesmo que tenham sido recrutadas para servir a realidades diferentes das coisas que denominavam originariamente, ou mesmo opostas a elas. Como nota Hayek, a “técnica mais eficiente” para atingir a transformação semântica almejada é “utilizar as palavras antigas, mas mudando seu sentido”. A frase “República do Povo” resume o processo, mas basta ver o que aconteceu com termos como “liberal”, “justiça” e “social”.
Em The Fatal Conceit, Hayek apresenta uma breve lista de 160 nomes aos quais se adicionou o termo “social”, desde “contabilidade”, “administração”, “era” e “consciência”, até “pensador”, “utilidade”, “opiniões”, “desperdício” e “trabalho”. Antigamente, dizia-se que uma doninha era capaz de esvaziar um ovo sem deixar marcas, e “social” é neste sentido uma “palavra-doninha”: uma casca fonética com pouco mais do que um eco de significado. É, escreve Hayek, “freqüentemente usada como uma exortação, um tipo de palavra-chave da qual a moral racionalista se vale para deslocar a moral tradicional, e agora suplanta gradualmente a palavra ‘bom’ como designação daquilo que é moralmente correto”. Basta pensar na odiosa fórmula “justiça social”: de facto, passou a significar injustiça, uma vez que atua manipulando o maquinário legal da justiça a serviço de fins pré-determinados. Os partidários da “justiça social” desprezam a justiça “meramente formal”; e, ao fazê-lo, substituem o império da lei – tradicionalmente representada como cega precisamente porque “não fazia acepção de pessoas” – pelo império de uma (pseudo)-“eqüidade”.
Não surpreende que Hayek tenha sido freqüentemente descrito como “conservador”. A bem da verdade, ele poderia replicar com razão que sua posição poderia ser descrita mais adequadamente como “liberal”, entendendo-se este termo não em sua deformação contemporânea (isto é, estatizante ou esquerdista), mas no sentido vigente na Inglaterra do século XIX, segundo o qual Burke, por exemplo, era um liberal. Há um sentido importante em que os liberais genuínos são (conforme a fórmula de Russell Kirk) conservadores precisamente por serem liberais: compreendem que a melhor possibilidade de preservar a liberdade está na preservação das instituições e práticas tradicionais que, por assim dizer, abrigaram a liberdade. Embora cauteloso quando se trata de inovações políticas, Hayek acreditava que o conservadorismo tradicional dos Torys era excessivamente comprometido com o status quo. Seu liberalismo era, neste sentido, um liberalismo ativista ou experimental.
Esta é uma faceta do pensamento de Hayek que o filósofo Michael Oakeshott discernia com precisão ao observar que a “principal importância” de O caminho da servidão não estava na coerência interna da doutrina de Hayek, mas “no fato de ser uma doutrina”. “Um plano para resistir a todos os planejamentos talvez seja melhor que os seus opostos”, prossegue Oakeshott, “mas pertence ao mesmo estilo político”. Talvez seja assim. Mas o valor inestimável de Hayek consiste em ter dramatizado a farsa sutil da empreitada socialista. “Raramente a liberdade, seja de que tipo for, se perde de uma vez”: a frase de Hume serve de epígrafe a O caminho da servidão. É tão pertinente hoje quanto no tempo em que Hayek a transcreveu em 1944.
Artigo traduzido da revista The New Criterion, vol. 25, n. 9, maio de 2007. Copyright © Roger Kimball, 2007. Todos os direitos desta tradução reservados a Dicta&Contradicta.
Roger Kimball é crítico de arte e editor executivo do The New Criterion Magazine. Publicou, entre outros, os livros The Rape of the Masters: How Political Correctness Sabotages Art (Encounter Books, 2004), The Long March: How the Cultural Revolution of the 1960s Changed America (Encounter Books, 2000) e Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Our Higher Education (HarperCollins, 1990).
Tradução de Marcelo Consentino. O tradutor é Bacharel em Direito pela PUC-SP, mestre em Filosofia pela Ponteficia Università della Santa Croce (Roma) e Doutor em Filosofia da Religião pela PUC-SP. É o atual presidente do Instituto de Formação e Educação (IFE).
Tradução publicada originalmente na revista-livro do IFE, Dicta&Contradicta, Edição 1, Junho de 2008.
NOTAS:
[1] O termo inglês conceit transita entre os nossos “vaidade” e “arrogância” (n. do. t.).
[2] The Collected Works of F.A. Hayek, vol. II: The Road to Serfdom: Text and Documents – the Definitive Edition, ed. Bruce Caldwel (Chicago: University of Chicago Press), 1994, 283 págs. [Traduzido no Brasil como O caminho da servidão, Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1987. N. do t.].
[3] Edição brasileira Alexis de Tocqueville, A democracia na América, 4ª. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2005,
2 vols. (n. do t.).
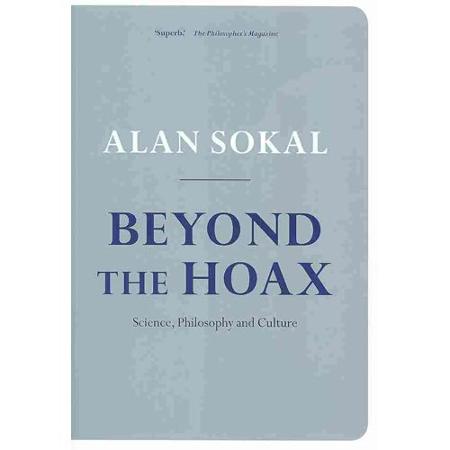






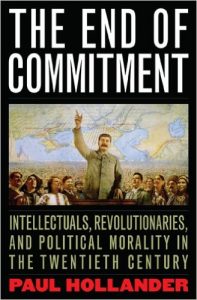 Dados técnicos: Paul Hollander. The End of Commitment: Intellectuals, Revolutionaries, and Political Morality in the Twentieth Century. Ivan R. Dee, Publisher, 2006, 416 pp.
Dados técnicos: Paul Hollander. The End of Commitment: Intellectuals, Revolutionaries, and Political Morality in the Twentieth Century. Ivan R. Dee, Publisher, 2006, 416 pp.