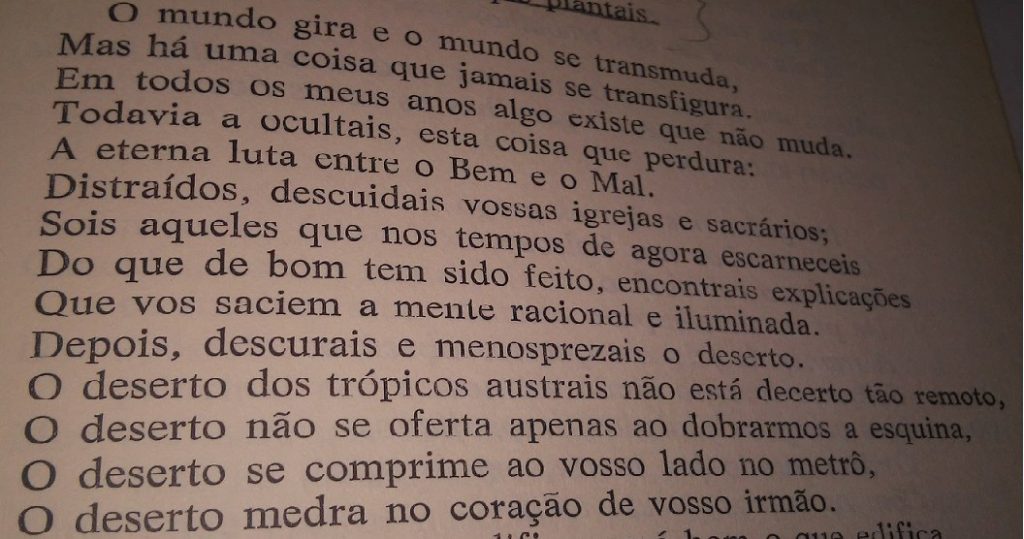Alasdair MacIntyre at The International Society for MacIntyrean Enquiry conference held at the University College Dublin, March 9, 2009. Photo: Sean O’Connor.
Num momento importante em suas vidas, Martin Heidegger e Edith Stein encontraram-se pela última vez, para uma caminhada com seu mestre, Edmund Husserl. Começava a década de 1920. Husserl e a fenomenologia que ajudara a criar eram a mais instigante novidade no cenário filosófico alemão. Heidegger ainda não havia escrito sua obra máxima, O ser e o tempo, publicada em 1927, mas era o mais promissor dos alunos de Husserl. Uma estrela em ascensão em meio a um grupo, em geral, brilhante. Stein trabalhava como secretária de Husserl, estagnada na carreira acadêmica ao menos em parte por ser mulher e em parte por ser judia.
Terminado o passeio, os caminhos dos dois alunos de Husserl se afastam. O ex-seminarista Heidegger abraça o nazismo, que lhe deu cargos. A judia atéia Stein converte-se ao catolicismo, torna-se freira carmelita, morre em Auschwitz e é canonizada como Santa Teresa Benedita da Santa Cruz, seu nome de religiosa. “A direção da vida de Stein só se torna inteligível à luz de sua filosofia, e suas posições filosóficas são, de maneira significativa, informadas por suas experiências de vida”, escreve Alasdair MacIntyre em seu livro Edith Stein: a Philosophical Prologue 1913-1922. A frase serve como resposta à pergunta que dá o título ao capítulo inicial “Por que se interessar por Edith Stein como filósofa?”
Stein é, segundo MacIntyre, um exemplo moderno de algo comum na antigüidade: um filósofo que vive seu pensamento. O contraste com Heidegger, observa, não poderia ser maior. Depois da guerra, os seguidores de Heidegger criaram a versão de que a vida do filósofo – e seu envolvimento com o nazismo – era uma coisa, sua filosofia, outra. O repúdio àquela “aventura política” não deveria prejudicar a recepção de sua obra. “O próprio Heidegger, na última parte de sua vida, cooperou generosamente com aqueles que estavam estabelecendo as bases desse mito”, escreve ele. É a situação do filósofo como especialista universitário levada ao extremo. Para MacIntyre, que enfrentou a tarefa de pensar, se não diante de um evento tão definidor quanto a Segunda Guerra, ao menos diante de uma situação tão tensa quanto a Guerra Fria, o conforto da “poltrona de Oxford” não bastava.
Publicado em 2005, Edith Stein: a Philosophical Prologue 1913-1922, é o mais recente livro de MacIntyre. Nascido em 1928 em Edimburgo, ele vem publicando livros e artigos regularmente desde 1953. O interesse pela vida de Edith Stein amarra vários fios que sua investigação filosófica vem perseguindo desde o começo. E ilustra, como exemplo dramático de vida filosófica, uma outra vida filosófica: a do próprio MacIntyre.
No mundo de língua inglesa, ele é hoje um dos filósofos mais importantes e influentes. Especialmente no campo da filosofia moral. Chegou a ela através da política. Membro do Partido Comunista britânico até o início da década de 1950, saiu dele com a geração de escritores e pensadores que, desencantada com o rumo que o stalinismo imprimira ao comunismo internacional, fundaria a New Left britânica. MacIntyre, então no início de sua carreira acadêmica, lançou-se filosoficamente em busca da solução para um problema. O comunismo, e mais do que ele o marxismo, pareciam-lhe corretos em certos pontos. Basicamente a crítica ao capitalismo liberal e seu efeito destruidor ao transformar o homem que trabalha em uma mercadoria. Diante do sinistro quadro que se desenhara na União Soviética, no entanto, era claro que o marxismo tinha falhas graves. Se não implicava necessariamente uma ditadura sanguinária como a de Stalin – argumento da maior parte dos integrantes da New Left – também não era capaz de barrá-la. Faltava, dentro do marxismo, um argumento moral contra Stalin.
O diagnóstico de MacIntyre era de que o marxismo, ao se pretender científico, incorria num erro que vedava ou prejudicava toda argumentação moral. Parte do movimento socialista havia adotado a visão de que o marxismo era uma teoria científica. Assim, postulava causas para os comportamentos sociais e para a história. A primeira parte do caminho filosófico de MacIntyre lida, por causa disso, com o que se poderia chamar de filosofia das ciências sociais. Especialmente com a noção de causa aplicada a essas ciências. Causa, resume MacIntyre, entende-se na ciência como o conjunto das condições suficientes para que se dê um resultado. Isso elimina a escolha. A maçã não escolhe cair ou não na cabeça de Newton. Dadas as condições, ela cai. Uma ação humana, portanto, pode ter uma causa, ou pode ser fruto da vontade racional. Não as duas coisas ao mesmo tempo. Ora, o campo da filosofia moral é exatamente o da vontade racional e, por ser racional, livre. Posto fora desse campo pela pretensão científica, o marxismo se via impossibilitado de articular uma crítica moral que tornasse inaceitável a opção stalinista.
Era preciso, então, buscar uma alternativa. A mais evidente era a versão do humanismo socialista expressa por Eduard Bernstein em 1899. Para Bernstein, o socialismo era uma resposta moral do homem aos problemas sociais. O princípio básico era a idéia kantiana de que um ser humano não pode ser considerado como um meio. O homem é sempre um fim em si mesmo. Era exatamente isso que a versão stalinista do socialismo negava; logo, a alternativa humanista de Bernstein, se parecia boa no fim do século XIX, era claramente inútil na segunda metade do XX, o século do Holocausto e do Gulag.
O problema é que, fora do campo do socialismo, também não parecia haver nenhuma alternativa viável. O interminável debate em torno de questões morais que marca a modernidade revela duas coisas, segundo MacIntyre. A primeira é que o debate é interminável porque cada concepção moral fala a partir de seu próprio ponto de vista. Não há um critério ao qual possam apelar para resolver seus impasses os defensores das teses utilitaristas – que supõem que a ação moralmente correta é aquela que resulta em maior bem para o maior número de pessoas – ou deontológicas – os que supõem, na esteira de Kant, que a ação moral é aquela que decorre de princípios racionalmente estabelecidos, independentemente de quais sejam seus resultados.
A análise desse problema, e as componentes epistemológicas levantadas por MacIntyre em seu trabalho sobre causalidade nas ciências sociais e na psicanálise (na obra The Unconscious: a Conceptual Analysis, de 1958, em que MacIntyre acusa Freud do mesmo erro que apontara em ação nas ciências sociais, o de transformar em causa, portanto em encadeamento automático de situações, o que é fruto da vontade, ainda que inconsciente, no caso do objeto da psicanálise) levaram à sua mais ambiciosa obra, After Virtue. Traduzida para o português como Depois da virtude, o título significa ao mesmo tempo isso e mais do que isso. “Depois da virtude” é o sentido mais literal e aponta para o caráter histórico da obra. Ela é uma expansão do projeto iniciado por MacIntyre em 1966 com A Short History of Ethics e diagnostica a crise da filosofia moral moderna como um efeito de sua história. After Virtue, no entanto, também significa algo como “atrás da virtude”, “à caça da virtude” e, nesse sentido, representa o que MacIntyre propõe como solução para a situação atual de crise: a redescoberta da moral de virtudes em sua formulação clássica por Aristóteles, especialmente na versão do aristotelismo representada por São Tomás de Aquino. A escolha de Aristóteles, especialmente em sua versão tomista, não é aleatória e o caminho até essa solução não é simples. Articular todos os componentes da argumentação de MacIntyre vai muito além dos limites desse artigo. Mas três elementos permitem seguir, em traços rápidos, a sua argumentação geral.
Em primeiro lugar o diagnóstico da situação atual da filosofia moral como um debate feito em torno de termos e expressões – moral, bem, certo e errado etc. – cujo significado se perdeu. “Uma parte fundamental da minha tese é afirmar que o discurso e os métodos da moral moderna só podem ser compreendidos como uma série de fragmentos remanescentes de um passado mais antigo e que os problemas insolúveis que geraram para os teóricos modernos da moral permanecerão insolúveis até que isso seja bem compreendido”, escreve MacIntyre em Depois da virtude.
A moral clássica, tal como se desenvolveu desde a Antigüidade e que valeu, cristianizada, ao longo da Idade Média, pressupunha dois critérios fundamentais. Por um lado a moral visa a fazer do homem aquilo que ele deve ser por sua natureza. Assim, a moral das virtudes é teleológica. As virtudes visam a um fim específico. De outro lado, aquilo que o homem deve fazer é buscar o bem. Para articular cada bem particular evitando o relativismo, segundo o qual cada um considera bem aquilo que melhor lhe parecer, os bens articulam-se em torno de um Bem absoluto. Esses dois critérios fundamentais foram perdidos no início da era moderna. Sobraram apenas os termos em que o debate se dava. Sem os critérios, afirma MacIntyre, o debate contemporâneo se articula em torno de fantasmas. “Se o caráter deontológico dos juízos morais é o fantasma das concepções da lei divina, que é completamente estranha à metafísica da modernidade, e, se o caráter teleológico é, de maneira semelhante, o fantasma das concepções da natureza e da atividade humanas que também estão deslocadas no mundo moderno, devemos esperar que os problemas do entendimento e da atribuição de um status inteligível aos juízos morais continuem a surgir e se demonstrar hostis a soluções filosóficas”, escreve ele em Depois da virtude.
Em segundo lugar, é necessário superar a divisão entre visões de mundo estanques. Quando ainda se dedicava primariamente à epistemologia das ciências sociais, Thomas Kuhn publicou seu A estrutura das Revoluções Científicas, uma das mais influentes obras de filosofia da ciência. Nela, Kuhn lançou o conceito de paradigma, hoje banalizado. Ele argumentava que teorias científicas rivais não podem ser compreendidas uma com o aparato racional da outra. Quando das revoluções científicas, uma delas derrota a anterior. Muda o paradigma, nos termos de Kuhn. O novo paradigma não tem uso para o anterior. MacIntyre, sempre preocupado em evitar o relativismo, rejeita esse modelo. É preciso que haja algo pelo que os paradigmas rivais possam ser julgados. Se não for assim, não há motivo racional para mudar de um para o outro. E não havendo motivo racional para mudar, não há como apontar falhas morais, por exemplo, num “paradigma” stalinista, transportando a discussão de Kuhn para o campo das ciências sociais ou sua aplicação prática pelos marxistas. A solução para isso MacIntyre busca no conceito de narrativa, que ele elabora principalmente a partir da visão de história de R.G. Collingwood. É a narrativa que permite contar a passagem de um paradigma a outro, ou seja, que permite narrar o acontecimento histórico que é uma revolução científica. É ela a detentora da racionalidade pela qual se pode explicar a escolha de um paradigma em detrimento de outro. Essa narrativa contará como um paradigma ampliou o poder explicativo de uma ciência em particular, justificando, assim, de fora e acima de cada um dos paradigmas rivais envolvidos, a revolução científica representada pela troca de paradigmas. Essa narrativa é atividade de uma tradição dentro da qual seres humanos racionais se dedicam a uma investigação.
É esse mesmo modelo que ele propõe como solução para o insolúvel debate moral contemporâneo. A racionalidade do debate terá de ser restituída através da retomada da tradição na qual o Ocidente se engajou, desde a Antigüidade até o início da era moderna, em busca de um modo racional de entender como se deve viver, o ponto de chegada, afinal, de toda ética.
E assim, chega-se ao terceiro ponto básico do projeto de MacIntyre. Assim como a narrativa é aquilo que nos permite superar as divisões de um debate que se tornou fragmentado, é ela que vai dar forma a cada vida humana. Na altura em que escreveu Depois da virtude, publicado em 1981, MacIntyre considerava que o principal problema para a aceitação das virtudes tais como Aristóteles as entendia, era o que ele chamou de “biologia metafísica”. Para o grego, aceitar o fato de que a moral dita aquilo que o homem tem de fazer para se tornar o que ele deve ser não era um problema. Ele sabia de antemão, graças a essa “biologia metafísica”, o que o homem deveria ser. Essa alternativa, disse McIntyre em Depois da virtude, não está disponível ao homem contemporâneo. MacIntyre mudou um pouco sua posição desde então, especialmente à luz de São Tomás de Aquino. De qualquer forma, a solução para MacIntyre era uma vida inteligível. Se há parâmetros morais que podem ser estabelecidos racionalmente, então é necessário que silogismos práticos sejam possíveis. Isto é, de duas premissas teóricas, segue-se uma conclusão que é um ato, uma ação humana racional. Racional, portanto compreensível. Uma vida vivida moralmente, portanto, será uma vida compreensível, como uma narrativa. Uma vida que tem a possibilidade de atingir ou não a meta. Essa vida inteligível será inteligível para os outros e para quem a vive. Será, pois, uma narrativa capaz de superar as divisões em papéis sociais estanques que a vida moderna impõe ao homem contemporâneo.
MacIntyre não parou em Depois da virtude. Sua concepção de tradição sofreu algumas mudanças em livros como Whose Justice? Which Rationality? Three Rival Versions of Moral Enquiry: Encyclopaedia, Genealogy, and Tradition e Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues. Nesse último, MacIntyre praticamente aceita a “biologia metafísica” de Aristóteles que havia rejeitado e sua versão da história da filosofia moral sofre alguns ajustes, mas não abandona a direção dada por Depois da virtude.
Essa direção é, na verdade, o que torna inteligível a vida de McIntyre. Desde as preocupações que o levaram ao marxismo e, depois, afastaram-no dele e o levaram de encontro a Aristóteles e São Tomás. Graças a isso, MacIntyre também conseguiu articular a preocupação com o cristianismo que desde o início se apresentou a ele como uma possível alternativa para o marxismo. Em 1988, aos 60 anos, o filósofo se converteu ao catolicismo. Assim se explica seu interesse por Edith Stein como filósofa. Uma judia que abandonou a fé de seus pais e encarou a morte guiada por uma busca filosófica é um exemplo radical de vida inteligível. E tornar a vida inteligível é um papel que a filosofia precisa urgentemente recobrar.
Marcelo Musa Cavallari é jornalista.
Publicado originalmente na revista-livro do Instituto de Formação e Educação, Dicta&Contradicta, Edição 4, Dezembro de 2009.