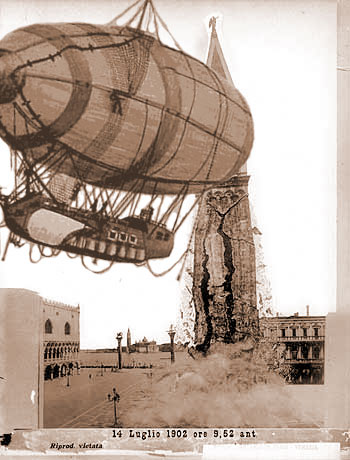Ilustração de Maria Bonomi que acompanha a edição impressa.
Neste ano, o maestro Kurt Masur, apesar dos seus oitenta e um anos, dispôs-se a vir ao Brasil para reger a nona sinfonia de Beethoven com a orquestra dos bolsistas do Festival de Inverno de Campos. Os dias de ensaio foram uma experiência muito interessante (ao menos para mim, espectador), mas devem ter custado um pouco para os protagonistas diretos. Os jovens músicos estavam nervosíssimos com a regência exigente. Masur, um senhor corpulento que se move com certa dificuldade mas se transforma num gigante quando sobe ao pódio, estava tenso com a orquestra desacostumada. E, por trás da cena, o maestro Roberto Minczuk fazia das tripas coração para os dois lados se entenderem…
A certa altura, com toda a veemência germânica, Masur interrompeu a orquestra, olhou para os músicos e disse: “O que vocês pensam que estão fazendo? Isto aqui é música! Façam MÚSICA!” Pois bem, foi esta frase marcante que procurei usar como lema na entrevista com Roberto Minczuk, que (paradoxalmente…) gira toda em torno da música. Apesar da sua agenda carregadíssima – naqueles dias, ele estava ensaiando a ópera La Bohème, de Puccini -, o maestro conseguiu achar um tempo para conseguirmos encontrar-nos em um café de Ipanema, em uma bela tarde carioca de fins de agosto. Além dele e de mim, estava lá a Valéria Minczuk, esposa do Roberto. São gente tão amável que nem a presença do gravador conseguiu estragar o ambiente e transformar uma conversa distendida numa entrevista formal. E o resultado é o que se poderá ler nas próximas páginas.
GMR: Ser um maestro não é ter uma profissão como outra qualquer. Um corretor de imóveis ou um engenheiro podem sair do escritório e deixar todo o seu dia-a-dia lá… Para um maestro, é possível fazer a mesma coisa?
RM: Acho que não. Um maestro, e na verdade a maioria dos artistas, precisa envolver-se com os projetos que faz. Aquilo o acompanha e, no caso da música, às vezes chega a ser um problema. Agora, por exemplo, estou ensaiando La Bohème, e desde há um mês estou com frases e até com a ópera inteira de Puccini na cabeça praticamente o tempo inteiro. Vou dormir com La Bohème e acordo com La Bohème!
Isso chega a irritar, principalmente quando é uma única frase que se repete continuamente. Nestes casos, o que preciso fazer é ouvir outra música. Normalmente, chego em casa e ligo um CD; depois de uma apresentação, por exemplo, ouço Música Popular Brasileira ou vou a um bar de jazz. Preciso colocar uma informação diferente na cabeça; é a maneira que tenho de conseguir desligar-me um pouco.
O Bruno Tolentino dizia com freqüência que ninguém escolhe ser poeta: ou se é ou não se é. Com a música, isso talvez seja até mais verdadeiro, porque é algo que surge muito cedo. Você acha que escolheu ser músico e maestro, ou simplesmente não poderia agir de maneira diferente?
Eu acho que tinha de sê-lo. Sempre me digo, e digo a outras pessoas, que não, que eu poderia fazer outra coisa. Quero acreditar nisso, mas na verdade já nasci num lar em que a música estava muito presente. O meu pai era músico, e para ele a música era a coisa mais importante; a minha mãe cantava no coro da igreja; eu sou quinto filho de uma família de oito, e os mais velhos já tocavam quando eu era pequeno. Ou seja, praticamente não tive escolha: eu tinha de tocar para sobreviver naquele ambiente. Era uma forma de destacar-me ali, e era também interesse do meu pai e da minha mãe.
Na verdade, acho que mesmo antes de nascer eu já vivia a música: imagino a minha mãe, grávida, cantando e ouvindo música o dia inteiro. Isso evidentemente deve ter afetado o meu desenvolvimento. Em resumo, a verdade é que sempre me vi envolvido pela música.
O fato de você ter ouvido absoluto [1] também deve ter ajudado nesse processo. Como descobriu?
Foi também quando era muito pequeno. Uma das coisas que o meu pai fazia, comigo e com o meu irmão, era treinar o nosso ouvido através de brincadeiras. Brincadeiras de ouvido absoluto: ele tocava uma nota em vários instrumentos, e ganhava quem acertasse mais. Fazíamos isso desde os sete anos de idade.
Ter ouvido absoluto chega a incomodar de vez em quando?
Incomoda, porque o tempo inteiro aquilo que não está perfeitamente afinado atrapalha muito. Mas aprendi a desligar isso; aliás, preciso desligá-lo muitas vezes porque, caso contrário, fica impossível trabalhar: seria preciso parar a cada nota e corrigir a afinação da orquestra. Pequenas variações sempre ocorrem, mesmo nas grandes orquestras; por isso, às vezes preciso desligar essa percepção, ou pelo menos reduzir a sensibilidade.
Parece-me que há uma diferença entre a percepção e, principalmente, o entendimento que um maestro tem da música, e nós, simples ouvintes, mesmo que gostemos de música. Você percebe isto? Como é essa relação entre o entendimento e a música para você?
Vou responder com um exemplo: La Bohème é uma peça que tem um significado muito especial para mim. Foi uma das primeiras óperas que toquei na vida, quando tinha treze anos e era primeira trompa do Teatro Municipal de São Paulo. Eu estava ali, sentado ao lado do meu professor – um italiano chamado Enzo Pedini, que foi um grande mentor para mim -; tudo naquele momento era novo: eu estava descobrindo a música do Puccini, que é maravilhosa; descobrindo o que é um teatro de ópera, que é uma fonte de beleza inesgotável. Eram duas horas de música com uma ária mais linda que a outra. E tudo isso aos treze anos!
Ter contato com esse tipo de beleza, fazer parte daquilo tudo, é uma experiência muito impactante. É claro que mais tarde estudei, tive toda uma trajetória como músico, depois como maestro, mas a emoção que a música traz é muito importante. E continua importando hoje, num momento em que retorno a esta ópera como regente.
Evidentemente, há aspectos específicos nos quais me concentro. Por exemplo, a perfeição da parte orquestral, da performance orquestral, é o que mais chama a minha atenção, porque sou especialista em orquestra sinfônica. Por isso, a minha abordagem de qualquer obra começa sempre pelos instrumentos. Nas óperas, vou ao detalhe da orquestração e da performance da orquestra para deixar tudo pronto para os solistas, para a parte cênica – que é quem faz o todo do espetáculo. Antes de chegar a esse “todo”, porém, existe uma atenção muito técnica ao detalhe: à dinâmica, ao colorido do som, aos tempos, à articulação, à acentuação e ao fraseado. E isso é o que mais toma a minha atenção.
Outro aspecto interessante é que ouço notas. Quando escuto uma música, presto atenção em cada uma das notas. Seria mais ou menos como se, ao conversar, você não ouvisse as sentenças ou as palavras, mas sílaba por sílaba daquilo que está sendo dito. E isto é uma parte muito importante da maneira como percebo a música: ouço as notas e praticamente a vejo a música impressa na folha.
Também o meu gesto faz parte dessa percepção. Vira e mexe, ouço uma música sentado, o pensamento me vem, a música me ocorre na mente, e imediatamente as minhas mão começam a fazer o gesto da regência, naturalmente e sem que eu me preocupe com isso. Até quando dirijo o carro, o que deixa a Valéria muito incomodada: “Como você consegue dirigir e reger ao mesmo tempo? Não faça isso!”, diz ela. Evidentemente, tem medo de que a gente tenha um acidente…
Valéria: O que já aconteceu, não é, Roberto?!
Ouvir alguns tipos de música no carro deveria ser proibido, então? Mahler só em estradas retas, Wagner só quando o trânsito é muito intenso…
Mas se a música aparece na sua mente como se você ouvisse sílaba por sílaba, ao mesmo tempo você tem de ter uma compreensão completa. Se eu falasse apenas em sílabas, você provavelmente não entenderia o que digo, mas o fato é que você entende. Há uma apreensão global, ou o global vem só depois do particular?
Na verdade, o importante mesmo é o todo. É a seqüência e a frase: a arquitetura da obra, digamos. E isso, eu o tenho muito claro. Mas para conseguir reger bem, é essencial ir nota por nota, senão você perde o detalhe. Ao mesmo tempo, algumas pessoas concentram-se demais no detalhe e perdem a noção do todo. As duas coisas caminham juntas e o trabalho do maestro, no ensaio, é destrinchar esse emaranhado: é desmontar a música e montá-la de novo, parte por parte, com absoluta perfeição no ajuste das engrenagens, para que fiquem absolutamente azeitadas e com aquele “molho”, aquele “algo a mais” que precisa haver.
Dentro dessa percepção, como ficam as noções matemáticas? Quer dizer, de Bach a Schoenberg, há em muitas composições uma noção matemática, princípios matemáticos muito presentes. Isso tem alguma função para você?
Com certeza, absolutamente. Princi-palmente na música instrumental; na sinfonia é essencial. Porque o maravilhoso da música instrumental é que ela é totalmente abstrata, não existe um programa. As exceções só confirmam a regra geral: a música pode significar algo para mim e algo bem diferente para você como ouvinte ou intérprete. O que não significa que a música não conte uma história, pelo contrário. Eu acredito que toda música, por mais abstrata que seja, tem uma história.
Grande parte do repertório que interpreto é composto por músicas baseadas em formas muito estritas. A forma sonata, por exemplo, foi utilizada nas maiores composições, nas sinfonias, com um enorme rigor lógico e matemático. Na verdade a própria organização da música, de todas as notas, dos tons e semitons… A música ocidental é toda construída em cima dessas noções matemáticas.
Agora, tomemos esse assunto pelo lado oposto. Para mim, é muito clara é a beleza de uma prova matemática, de um teorema; mas muitas pessoas que não têm inclinação matemática simplesmente parecem incapazes de entender esse tipo de beleza. Isso faz sentido para você?
Todo o sentido! A percepção não começa pela matemática, evidentemente; o que interessa é o resultado estético daquela música. Mas, quando você começa a analisar, a estudar, percebe que aquilo também é matematicamente perfeito, o que torna a música ainda mais maravilhosa.
O caso de Bach, que eu considero o maior gênio da música de todos os tempos, é impressionante, porque essa perfeição matemática é aparente só de olhar a página da partitura. Tenho vários fac-símiles de manuscritos seus, e basta olhá-los para ficar admirado e realmente emocionado. São manuscritos únicos. Ele raramente revisava uma obra, e praticamente não há qualquer tipo de correção na página – a música é, neste sentido, simplesmente perfeita, acabada, sem erro. Mas da mesma forma dá para ver que Bach criava regras matemáticas e depois desobedecia a elas, e também essas exceções soam perfeitas.
Quais as suas composições preferidas de Bach?
Eu gosto muito das obras maiores – a Paixão segundo São Mateus -, amo a Paixão segundo São João, a Missa em Si Menor… que são as mais grandiosas; mas também das obras mais simples e menos famosas, como os prelúdios que escrevia para os alunos e que são de uma beleza tão profunda que fico fascinado e me pergunto: “Como é possível?”
Bach é tão universal que a sua música pode ser tocada tanto no cravo, no órgão ou nos outros instrumentos originais, quanto em qualquer outra versão; é possível ouvir uma versão em marimba dos Prelúdios e Fugas ou uma versão em qualquer instrumento de percussão ou sopro. Até com sintetizador e instrumentos eletrônicos…; e continua sendo tão maravilhosa quanto a ária de soprano das cantatas. Enfim, é uma música realmente universal.
E por que é universal? Ou essa pergunta simplesmente não faz sentido?
A pergunta faz sentido, e acho que a resposta passa pelo fato de a música dele fazer sentido tanto para o músico mais simples como para o músico mais arrojado, para o ouvinte mais simples e o mais arrojado. A sua música é de uma beleza contagiante e de uma complexidade intrigante, que estimula tanto o leigo quanto o especialista. Bach é um compositor que fascina.
Apesar de ele não ter tanta coisa para orquestra, você pode dizer que é mais difícil reger Bach?
Na verdade, Bach não é especialmente difícil. O problema é que hoje as orquestras tendem a especializar-se muito, e os maestros também. Eu rejo mais obras do período romântico, a música germânica e a russa dos séculos XIX e XX. Rejo menos as obras clássicas e barrocas simplesmente porque existe uma demanda maior por aquele repertório. Por outro lado, tenho necessidade de trabalhar com a música de Bach, mesmo com a orquestra com que trabalho, que é uma orquestra moderna, com instrumentos modernos. Neste sentido, sim, pode-se dizer que Bach se torna um pouco mais difícil, porque a interpretação da orquestra será comparada às abordagens puristas que se vêm fazendo, com instrumentos de época e toda a exploração dessa técnica.
Essa tendência continua em voga hoje em dia. Mas não era mais intensa há algumas décadas?
Continua em voga, sim. Evidentemente, hoje existe mais liberdade, o que é muito bom. Não me oponho a nenhuma das abordagens: gosto das versões românticas de Bach, com grandes orquestras, e gosto também das versões com instrumentos de época e orquestras pequenas. Enfim, para mim o que vale é a qualidade da apresentação, a excelência da apresentação.
Glenn Gould tocando Bach, por exemplo?
Maravilhoso! Maravilhoso, único, fantástico. Excêntrico e fantástico.
Agora, voltando para a questão da relação do maestro com a orquestra, é possível afirmar que a orquestra é o instrumento do maestro?
Sim! A orquestra é o instrumento do maestro, ou seja, ele sozinho não é nada, precisa da cooperação dos músicos, de um trabalho conjunto e harmonizado.
Neste caso, até onde vai a liberdade do maestro, até que ponto ele está livre para criar? Penso por exemplo numa declaração do Karajan, que certa vez disse: “Quando eu era jovem e regia na Alemanha, era comum reger o finale [da 7ª Sinfonia de Beethoven] muito mais devagar do que se ouve hoje em dia. Eu sabia que aquilo não estava certo, mas não podia sair da tradição devido à dificuldade de interpretar o conteúdo interior da música”. Até que ponto você se sente livre para mudar o tempo, fazer a sua interpretação etc.?
Sou contra o abuso. Tudo pode funcionar muito bem quando feito na medida certa. Principalmente no caso da música, que depende essencialmente do espaço e do tempo. Depende muito do instrumento que o maestro tem nas mãos, e nesse sentido a orquestra é como um carro: às vezes você tem um carro com uma enorme potência, às vezes um carro com menos potência; esse carro pode ser enorme ou pequeno; às vezes você tem um carro muito sofisticado numa estrada de terra esburacada, por exemplo. Ou tem um 4×4. Ou seja, existem tipos de orquestras e tipos de espaços onde essa orquestra irá se apresentar, que são os teatros e as salas de concerto.
E a música também não existe num tempo absoluto. “Este é o tempo definitivo, e não pode ser nem mais rápido nem mais lento”: não! Isso depende, por exemplo, de quantos músicos você tem na orquestra: se for uma orquestra maior, é preciso acomodar o som e o tempo precisa de mais amplitude. Se a sala for enorme, com muita reverberação, os tempos não podem ser muito rápidos ou a música embola, perde a clareza.
Todos esses fatores precisam entrar em consideração. Por outro lado, acho que não se pode alterar aquilo que está na página musical, corrompendo a idéia do compositor. Na verdade o maestro está sempre servindo o compositor que deixou a informação na página.
Aliás, isso também é curioso. Existem compositores que são absolutamente minuciosos. Johannes Brahms, Beethoven, Bartók são muito minuciosos. E outros são completamente diferentes: Villa-Lobos, por exemplo. Ele compôs mais de mil obras e nenhuma delas foi revisada por ele mesmo. Muitas vezes faltam dinâmicas, articulações etc. Ao invés de usar o tempo para fazer a revisão de uma obra, o Villa-Lobos preferia compor mais três! E esse é o estilo dele. Beethoven já não: ele revia, reescrevia. Por isso que o maestro precisa ter conhecimento para saber diferenciar uma obra de outra e, certamente, a tradição também colabora para que se possam manter certas alterações ou não.
No fim das contas, eu sou a favor dessa liberdade que vem de inspiração com conhecimento. Uma inspiração bem fundada, não simplesmente uma coisa aleatória que vem e não se sabe o porquê. É preciso ter uma justificativa por que vai se fazer desta forma e não de outra. Senão é melhor manter exatamente aquilo que o compositor pede – eu respeito as interpretações que são mais fiéis ao texto.
O curioso é que, quando se tenta uma “extrema pureza”, descobre-se que no fim das contas ela não é possível. Ou seja, uma parte é sempre do maestro ali, naquele momento e naquele lugar…
Exatamente; se não, a música pode tornar-se fria, e eu tenho certeza de que nenhum compositor gostaria de ouvir a sua música interpretada de maneira fria. O Gustav Mahler, por exemplo, também foi um compositor minuciosíssimo. A vantagem do Mahler é que, antes de ser compositor, ele já era maestro, e continuou maestro a vida inteira. Ele conhecia como ninguém a orquestra e o seu funcionamento. Por isso, nas suas partituras dá indicações de, por exemplo, reger aqui em 2, reger aqui em 4, reger ali em 3. Porque ele sabia exatamente o que queria, quais as dinâmicas etc. Foi um dos primeiros compositores a colocar tanta informação na partitura, e até a criar novos termos musicais.
Mas, ao mesmo tempo que tinha toda essa preocupação, um dos intérpretes preferidos do Gustav Mahler foi o Mengelberg, um holandês diretor da Concertgebouw. E Mengelberg desprezada muitas das indicações do próprio Mahler. Ele fazia a seu modo, e Mahler adorava! E é isso mesmo, no fundo acho que todo compositor que ouvir a sua música tocada com honestidade, com muita garra, com muito fogo e com muita paixão, vai gostar. Vai gostar, mesmo que a interpretação tenha idéias diferentes das que ele propôs.
Uma história que me parece ilustrar isto muito bem foi o encontro entre o Gerswin e o Alban Berg, em 1928. Como anfitrião, o Berg convidou um trio de cordas para tocar uma de suas composições para o visitante americano. Depois da apresentação, o Gershwin, que era, digamos, um pouco inseguro, ficou completamente perplexo com o que havia ouvido e por isso relutou quando o Berg o convidou para tocar uma das suas músicas ao piano. A resposta do Alban Berg foi, na minha opinião, sensacional: “Mr. Gershwin, music is music”. Como quem dissesse, “Vá lá e toque, porque música é música, não interessa que seja diferente”.
Por outro lado, também não é tão fácil assim: “Música é música”, mas e daí? Não seria necessária uma educação musical? Você acha que ela é possível e proveitosa?
Penso que é exatamente isso: “Música é música”. E dando continuidade a esta magnífica frase do Alban Berg, digo que não importa o gênero, não importa o instrumento: o que importa é a qualidade da música e da sua interpretação. E a educação musical começa com aprender a apreciar a música. E, sobretudo, aprender a apreciar o que é bom.
Os meus filhos, por exemplo, ouvem de tudo, todos os estilos de música. Acho fantástica justamente a exposição a toda essa diversidade. Eu, pessoalmente, gosto tanto de música de concerto quanto de techno music –
e afirmo que existe techno music de excelente qualidade: inteligente, bem feita e bem trabalhada. Música de raiz, MPB, jazz… Enfim, gosto até de música étnica, com instrumentos exóticos que não me são muito familiares, porque há qualidade nela, enquanto muita música clássica não tem qualidade nenhuma.
Muitos compositores clássicos escreveram coisas que você vai ouvir uma vez e nunca mais quererá ouvir de novo. São músicas que cairão no esquecimento porque têm mesmo de cair no esquecimento. Na época de Bach existiam centenas de compositores e apenas uma dúzia sobreviveu aos dias de hoje. Na época de Stravinski, a mesma coisa. No tempo de Mozart então, mais ainda! São raríssimos os compositores do período clássico que sobreviveram.
Por outro lado, a música erudita não exige um pouco mais do ouvinte?
Acho que não! A música clássica bem executada só exige talvez um pouco mais de concentração, de um espaço adequado. Na verdade, todo tipo de música foi criado para um espaço específico, e só vai funcionar bem neste espaço. Há, por exemplo, música feita especialmente para piano bar, e é perfeita para isso. A música de câmara foi pensada para uma “câmara”, um ambiente pequeno para poucos instrumentistas. Jamais terá o mesmo efeito se um quarteto de cordas tocar numa sala para 3.000 pessoas: é preciso ficar perto do músico…
Como a música clássica nasceu num ambiente mais requintado, dentro de palácios da aristocracia, ou numa igreja, ela requer um ambiente propício. Ao ouvir música clássica como fundo musical, por exemplo, nunca se consegue o mesmo efeito. Mas também ouvir música de piano bar numa sala de concerto não é certo, sempre vai parecer que falta alguma coisa.
Por isso, penso que não é uma questão de requerer mais do ouvinte, mas de poder dispor do ambiente onde se possa ouvir de maneira adequada.
Mas não requer nenhum conhecimento técnico, histórico?
Não, em princípio não. Basta ser música boa e bem executada. Porque a própria música tem em si a sua força. É como um grande livro: o livro está ali e você precisa lê-lo, concentrar-se. Mas a história pode ser fascinante para qualquer tipo de público, até para crianças! Ou seja, tudo depende da forma como vai ser apresentada, contada e absorvida. A música é universal, e por isso tem impacto em qualquer tipo de público.
E dentre os compositores, você tem os seus preferidos? A gente falava de Bach, mas quem mais?
Bach é meu compositor preferido, o que eu mais admiro. Mas diria que são três imbatíveis: Bach, Mozart e Beethoven, nessa ordem.
Beethoven é também um compositor com quem me identifico. Além de regê-lo com mais freqüência, ele também é muito central na música clássica. Está ali no final do século XVIII, começo do XIX, justamente a meio caminho entre o barroco e a música dos séculos XX e XXI. Beethoven é muito central em vários sentidos: as orquestras não são nem muito pequenas nem as enormes orquestras de hoje; ele é fundamental na música sinfônica, mas também desenvolveu o quarteto de cordas, a música de câmara, a música para voz e os concertos. E tudo simplesmente com uma qualidade absoluta e com uma mensagem universal.
Beethoven foi um grande humanista, mas ao mesmo tempo uma pessoa de fé. Ele era religioso no sentido de saber da existência de um Criador, com o qual sempre teve uma relação muito conflituosa, mas ao mesmo tempo muito pessoal. Beethoven, através da sua música e da sua vida, discutia com Deus, argumentava sobre o porquê das coisas, a razão de a vida ser como ela é. E o que se vê é Beethoven, na verdade, fazendo as pazes com a vida, aceitando. E ao mesmo tempo expressando profunda gratidão: isso é que é maravilhoso nessa pessoa e na sua música!
É a mesma coisa gostar de ouvir um compositor, e gostar de reger as obras de um compositor?
Interessante, porque há muita música que gosto de ouvir e não posso reger. Muita música de câmara, muita música que são canções com acompanhamento de piano. Ou música para piano solo, em que vivo sonhando: “Puxa, preciso orquestrar essa peça, ela é linda demais”. Mas depois penso: “Não, não vai soar tão bem quanto no piano solo“. Clair de Lune de Debussy, por exemplo, é uma das peças pelas quais sou apaixonado e quero fazer alguma coisa com orquestra, mas questiono-me, porque ela é perfeita ao piano solo.
Mas as peças que rejo, adoro ouvi-las todas. E quero ouvir diferentes versões; gosto muito de ouvir versões completamente diferentes das minhas, porque a música transcende. E também para ver como se pode ter a liberdade de interpretar de várias formas: porque você sempre enfatiza certos aspectos, e não necessariamente um é mais importante do que o outro. Mas, enfim, gosto de reger aquilo que gosto de ouvir, e vice-versa.
E não há a necessidade de voltar a certas obras?
O que sempre é fundamental é estar absolutamente apaixonado por aquilo que estou regendo no momento. É uma entrega, um entrar na mente e na alma do compositor para poder realmente fazer jus à obra. Isto é essencial, e de fato fico absorvido pelas obras que estou regendo.
E isso acontece sempre?
Às vezes eu tenho que reger coisas que não necessariamente quero reger. Mas realmente encaro isso com uma mente muito aberta e busco a beleza da peça, como se tivesse garimpando umas pepitas de ouro dentro de um vasto rio, buscando encontrar onde está a beleza. E faço isso para conseguir dar a tudo a melhor forma possível. Às vezes, chego à conclusão de que aquela peça não vale a pena, que é um esforço demasiado, que nem eu percebi esta beleza nem muito menos o público, aí é melhor engavetá-la. Ou obras em que chego à conclusão: “Não, essa obra não é para mim”.
Há algum exemplo em que você chegou a essa conclusão?
Na verdade, não muitos. Acabo tendo um relacionamento muito forte com todas as peças que rejo. Por outro lado, existem algumas obras que, por escolha, eu não quero reger. E é engraçado, porque não quero regê-las por causa da inspiração da obra, da mensagem ou do texto, de que por princípio eu talvez discorde. Há obras de cuja música gosto muito, gosto de regê-las, mas por ser contrário à mensagem da peça vou deixá-las de lado…
Algum caso concreto de que você se lembre?
Carmina Burana . É uma peça que já regi muito e gosto de regê-la. Ultimamente, porém, tenho analisado, prestado mais atenção na sua mensagem, e vejo que vai contra princípios meus, contra coisas em que acredito firmemente; portanto, penso que não devo expor essa mensagem. É uma mensagem em que não acredito, apesar de a música ser boa, uma música linda, uma música de que gosto. Nesse sentido, pretendo tomar mais cuidado com as escolhas que faço.
Você diz que não gostaria de reger os Carmina Burana por uma questão de princípios. Então o artista em geral, e o maestro em particular, têm de levar isso em consideração? Há uma dimensão moral na arte?
Para mim, isto é claro. Você pode causar danos à sociedade com coisas que aparentemente não têm maior importância. Há sempre um risco de difundir uma mensagem que acaba sendo nociva, por isso acho que é preciso concentrar-se naquilo que é bom, naquilo que edifica e constrói. Não é possível sublimar uma coisa que é, na sua essência, algo ruim e destrutivo.
Wagner entraria nisso, ou é diferente? Porque aí o problema não é a música, mas enfim…
Wagner… É curioso, nunca fiz a produção de uma ópera de Wagner. A música dele que faço é puramente instrumental e, abstraindo-se a essência da música, é de uma beleza também universal. O Wagner não era das pessoas com o caráter mais íntegro, mas a música dele…
Na verdade, para mim ele é uma prova de como Deus é justo. O sol brilha sobre todos, justos e ímpios, assim como a chuva cai para todos. Wagner é um gênio, tem esse dom genial, e isso é independente das escolhas que ele fez, de como usar esse talento e de como ser enquanto pessoa. O ser humano faz escolhas, tem a liberdade de escolher o rumo que vai tomar. E nem por isso a música dele deixa de ser absolutamente genial, uma música divina.
Isso acontece com o ser humano em geral: você vê pessoas brilhantes com um caráter questionável, quer pelas atitudes, quer pelas ações ou pelas obras, mas isso não diminui a sua genialidade e poder criativo. Por isso, penso que consigo separar as duas coisas.
Quando ouço a voz do Pavarotti, emociono-me, e sempre ia ouvi-lo. Independentemente da personalidade, do caráter, de como tratava as pessoas, tinha uma voz maravilhosa.
De fato, as saídas fáceis que buscamos – querer julgar um compositor por critérios unitários – sempre são falsas. Voltamos à frase do Berg: “Music is music”.
Por outro lado, como você enxerga o caráter transcendente na obra de arte e na sua vida? Qual a relação da religião com seu trabalho – se é que essa pergunta faz sentido?
A questão da fé faz sentido a partir do momento em que creio que nós existimos porque fomos criados, e que Deus criou o universo, a natureza. Uma das primeiras manifestações do Criador é a natureza, esse universo maravilhoso com todas as suas belezas, que vemos e que se mostram absolutamente perfeitas quando percebemos que há uma ordem em tudo. E eu acho que a música é um dom divino, é uma dessas bênçãos, uma forma de comunicação que transcende épocas, idiomas, nacionalidades…, tudo. Encaro a capacidade do ser humano de fazer música, de interpretar música, como um grande privilégio que nos foi dado.
A religião e o seu trabalho se complementam? Você acha que é possível ser maestro e não ter fé?
Penso que é possível, sim. É possível ser uma pessoa sem fé e ser um grande intérprete, inclusive de obras religiosas. O que é preciso é ter essa sensibilidade. Penso no Réquiem de Verdi, por exemplo, que se declarava ateu e escreveu uma obra baseada num texto religioso que simplesmente transcende; que é, enfim, maravilhosa. Isso para mim também é uma das provas de como Deus é justo, como uma pessoa que o rejeita é capaz de fazer algo tão bem quanto tantos outros. No fundo, isso é o amor do Criador, para mim isso prova simplesmente o Amor – e isso me nutre e inspira.
No entanto, se rejo uma obra religiosa e acredito naquilo que estou regendo, com certeza ela tem uma força maior. Quando rejo a Missa Solemnis de Beethoven, ou a Missa em Dó Menor de Mozart, e acredito em cada palavra que está sendo cantada, para mim aquilo passa a ter uma importância que transcende simplesmente a execução musical e a beleza da escrita.
Então você diria que é uma experiência mais completa? Ou é mais intensa…
Mais intensa, não diria mais completa. Porque é muito direta…
É como o que se diz de Bach: que ele seria a pessoa mais feliz do mundo, porque, quando queria conversar com Deus, simplesmente sentava-se e escrevia uma cantata…
É por aí. Bach, como Davi, simplesmente fazia tudo através da poesia e da música.
A formação de músico é muito exigente e exclusiva. Você teve contato com outras áreas – filosofia, literatura…? Isso é importante?
Considero isso essencial. Tive contato com outras áreas, encantei-me com filosofia e literatura. Assim como disse que o primeiro contato com uma ópera de Puccini é maravilhoso, o primeiro contato com Shakespeare, ou com Platão, causa um impacto inacreditável. Faz-nos pensar: “Como alguém foi capaz de discorrer sobre a vida e sobre esse assunto de uma forma tão inteligente, clara, sensata e bela?” Isso me causa um fascínio. Também a música expressa idéias de uma forma muita clara, mas através de outro meio. Assim como as artes plásticas…
Tudo isso torna-nos seres humanos mais experientes e, na medida em que envelhecemos, que vivemos e podemos identificar-nos mais com as situações e as inspirações que há nessas grandes obras, tudo isso vai ficando sempre mais maravilhoso. O conhecimento também pode ser destrutivo, e é preciso tomar cuidado com isso, é claro; mas quando o absorvemos de forma positiva, torna-se fundamental para o desenvolvimento do ser humano, e também o do artista.
Voltando à regência, você disse agora há pouco que acaba regendo mais música dos séculos XIX e XX, que é uma música mais complexa em vários sentidos… Acha que um maestro pode errar mais na música a partir do romantismo que antes, por exemplo?
Não, isso não faz sentido. Errar tecnicamente no repertório pode ser mais comum a partir do século XX, porque tecnicamente a música se torna mais complexa. Stravinski, Bartók e tantos outros que se seguiram depois exigem muito do maestro. Mas de forma alguma você pode dizer que a música anterior não exige a mesma entrega.
E como entender o modernismo? – porque muitas coisas mudam a partir de Stravinski, Schoenberg, Debussy. Entre elas, por exemplo, a relação com o público, que fica estremecida, ou a relação com a crítica… Às vezes, parece-me que a música perde a função de agradar, ou que passa a agradar de maneira diferente: em todo o caso, é certamente muito mais difícil que Schoenberg nos agrade. Quase tenho a impressão de que é uma música feita para ser lida, não ouvida… E a própria música mudou muito. Você gosta da música que foi feita a partir dali?
Em relação à música dodecafônica, tentou-se estabelecer uma regra que, parece-me, acabou por tornar-se uma camisa-de-força. Tentou-se estabelecer alguns limites para escrever música que julgo desnecessários. Mas se você prestar atenção em Alban Berg, que de todos os compositores dodecafônicos foi o mais inspirado, encontra composições maravilhosas. Mesmo o próprio Schoenberg, e também Webern, conseguiram algumas músicas geniais, apesar das limitações que eles se impuseram.
Enfim, é uma música menos acessível, mas também muito interessante. Na verdade, é mais gostoso executar do que ouvir esses três compositores. É gostoso tocar Schoenberg, pois desafia técnica e emocionalmente, porque é uma música linda de se tocar.
Também aprecio muito a música contemporânea, e a moderna igualmente. De todas as formas, até as mais abstratas, mais inovadoras. E o critério é sempre a qualidade. Ligetti, por exemplo, é um desses compositores ultramodernos pelos quais sou apaixonado. Amo a música dele, que é de um efeito extraordinário.
Um ponto importante nessa questão talvez seja o público. De todos os segmentos artísticos, o público de música clássica é o mais conservador. O público das artes plásticas é muito mais aberto, e o do teatro, do cinema, também. Mas isto talvez esteja mudando: conheço pessoas que não são especialistas nem grandes conhecedores de música, que simplesmente vão a concertos, e que adoram a música moderna. Outro dia, um amigo da área de teatro foi a um concerto no qual eu estava fazendo a estréia mundial de um compositor sino-canadense muito moderno. No programa, depois dessa peça, havia uma sinfonia de Brahms. As sinfonias de Brahms são uma das coisas mais belas que existem, mas, curiosamente, esse amigo gostou mais da peça moderna. Disse-me depois: “Não sei, mas isso tem mais a ver com a minha geração, com a minha faixa etária, com aquilo que eu curto”.
Não custa repetir: o importante é sempre a qualidade. A resistência que houve talvez tenha sido fruto de um excesso de radicalidade, quase como um choque. Mas a música, e as artes em geral, caminham à frente das suas gerações, sempre sugerem o novo, aquilo que será.
Para bem e para mal, ou só para bem?
Para bem e para mal. A música moderna passou a ser muito violenta, muito explosiva. Nós vivemos mergulhados nisso hoje, vivemos em cidades barulhentas, com criminalidade. Estamos expostos à violência diariamente, e a música, de certa forma, nos prepara para isso.
Outro ponto é que, quando você está numa exposição de arte, pode escolher quanto tempo dedica a apreciar uma obra. Quando está numa sala de concertos, não tem escolha: é obrigado a ouvir e, se a peça dura quinze minutos, você vai ouvir quinze minutos, a não ser que saia no meio. Na música, não temos muita opção quanto ao quê e ao quanto vamos apreciar, e por isso ela pode ser mais irritante – afinal, somos obrigados a ouvir aquilo que não queremos.
E a situação das orquestras? Hoje em dia, a quantidade de boas orquestras no mundo, e até no Brasil, parece ter aumentado. É um bom momento para a música?
É um bom momento, porque hoje temos mais orquestras de boa qualidade. E isso tende a melhorar, principalmente agora, graças a essa nova lei da obrigatoriedade do ensino musical em todas as escolas. Ainda vamos colher os frutos dessa decisão acertada.
O público existe, está aumentando – vejo isso nos concertos – e o crescimento econômico do Brasil se está refletindo também no investimento na área cultural. Evidentemente, queremos muito mais, porque o investimento em educação e cultura é primordial; basta ver o exemplo dos países asiáticos, que fizeram um investimento maciço na educação e na cultura. Enquanto isso, no velho mundo, assistimos a uma decadência; na Europa e nos Estados Unidos – que também já são “velho mundo” -, o investimento é cada vez menor. Nós vamos começar a fazer o investimento que os EUA fizeram há cinqüenta ou setenta anos, que foi um período maravilhoso para a América do Norte.
O papel de uma orquestra, de um músico, dentro da sociedade é algo que me parece absolutamente claro. Se você quer educar a sociedade, comece ensinando música às pessoas, porque sempre se começa a educação pela sensibilidade. Se as pessoas não conseguem apreciar o belo, não conseguirão fazer o bem e nem aprender o verdadeiro.
Você sente isso? Mesmo com relação à sua experiência recente aqui no Rio de Janeiro, nestes três anos desde que você assumiu a OSB, já parece haver uma mudança perceptível, ao menos para quem está de fora.
Também percebo isso e fico muito feliz. Justamente na música existe uma força muito grande, uma capacidade de impactar as pessoas. Ela nos torna pessoas melhores, mais sensíveis, mais atentas.
Toda a grande música, de certa forma, reflete o espírito do seu tempo, mas por isso mesmo ela dura para sempre, impacta todas as gerações futuras. Por isso Bach é ouvido até hoje. Por isso Beethoven ainda é ouvido; ele tinha tudo a ver com a época dele, os ideais democráticos, da liberdade de expressão e tudo o mais; e por ser tão rico em temas que eram atuais para ele, mantém-se vivo até hoje.
Da mesma forma, podemos ver hoje em dia o exemplo de John Adams, que escreveu On the transmigration of the souls, uma música inspirada e dedicada às vítimas do 11 de setembro. A arte talvez seja a única forma de abordar esse assunto sem que nos percamos em discursos e argumentos. Na sua simplicidade e universalidade, a música consegue transmitir uma mensagem capaz de consolar e de fazer sentido para toda essa geração, e também para sempre.
Nesse mundo, vemos mudar também a posição do maestro. Cada vez mais, o maestro precisa ser um pouco empresário, preocupar-se com orçamentos, com a administração de uma empresa. Isso o incomoda?
Incomoda-me apenas na medida em que me rouba um tempo que poderia dedicar à música em si. Ao mesmo tempo, é necessário e preciso participar dessa discussão. O maestro também precisa estar em contato com a realidade, dentro e fora da orquestra, do público, de quem na verdade mantém aquilo, quer seja o governo, uma empresa privada que nos patrocina ou a venda de ingressos. Hoje não há mais como não fazer parte de tudo isso.
Paralelo a isso está a relação do poder com a música. O próprio Karajan contava que, quando se encontrou com a Margaret Thatcher, ela lhe teria dito que invejava o “poder absoluto” do maestro, a sua figura, o controle que tem sobre a orquestra. Por outro lado, qual a relação que o maestro precisa ter com o poder público, com o Estado? Como você lida com tudo isso? O melhor é esquecer…?
Na verdade, penso que o Karajan deveria ter respondido à Dame Thatcher que nós, maestros, é que invejamos o poder dela, principalmente o poder sobre o orçamento da cultura… Ela simplesmente cortou todos os subsídios, e hoje em dia, infelizmente, os músicos ingleses têm um dos piores salários do mundo, precisam de uma jornada tripla para viver. E isso, em grande parte, graças a Margaret Thatcher, que foi uma excelente administradora sob muitos aspectos, mas certamente não investiu muito na música.
Com relação ao poder do maestro, na verdade não é nada daquilo que se costuma pensar. O objetivo do maestro é conseguir uma unidade sonora para poder servir à música, servir ao compositor. Conseguir fazer com que noventa e tantos músicos toquem com o mesmo propósito, consigam moldar uma frase da mesma forma. A música sinfônica representa isso: um esforço coletivo que produz algo imensamente belo, mesmo que na orquestra existam pessoas completamente diferentes, pessoas que às vezes podem não concordar entre si, mas no momento da performance conseguem realizar algo absolutamente unificado, e tão belo! Isso é que é fascinante e impacta a todos, começando por aqueles que são intérpretes, até chegar àqueles que estão ali, apreciando. É um privilégio o maestro poder ser uma figura de líder nesse processo.
É claro que existem abusos de poder, sobretudo na rotina, nos ensaios, mas isso não é positivo para ninguém. O poder do maestro precisa ser usado para conseguir o resultado de excelência e perfeição com a dignidade que a própria música propõe. A música dignifica o músico e o ouvinte. Esse é o resultado que a gente busca e que deve ser buscado, não outro.
E o sucesso seria apenas uma conseqüência?
O sucesso é a conseqüência de um trabalho bem feito. Hoje em dia, o sucesso tem uma importância maior porque é a partir dele que se conseguem mais recursos para manter o trabalho vivo. Ajuda assim a garantir que o trabalho terá continuidade e, nesse sentido, é importante, sim.
Valéria, faça uma pergunta. Você conhece o Roberto melhor do que eu.
VM: Pergunta para o Roberto… Nossa, acho que sei quase tudo. Mas já lhe perguntei qual é o seu sonho? Até onde você pensa que conseguirá ir, para onde está mirando, até onde quer chegar?
No ano passado, o Kurt Masur esteve dando uma seqüência de Master Classes aqui no Rio de Janeiro, e uma das obras era a quinta sinfonia de Beethoven. Depois de uma semana de Master Classes, aulas e profunda análise dessa obra, chamou todos os que estavam participando e fez um belo discurso, em tom de conversa, e terminou dizendo-lhes: “Olhem, vou completar oitenta anos de idade daqui a umas semanas e, se Deus quiser, ainda terei alguns anos de vida pela frente, talvez uns três ou quatro. O que quero dizer é que pretendo passar boa parte desse tempo estudando Beethoven”. Aquilo foi muito marcante, porque não consigo imaginar uma pessoa que conheça mais Beethoven do que ele…
Por isso, acho que não há limites para o que posso explorar na minha área e na minha profissão. O meu objetivo é fazer bem aquilo que faço, da melhor maneira possível. Fazê-lo com excelência e tornar-me um maestro cada vez melhor. E sempre digo honestamente: a minha primeira experiência em reger foi na igreja, regendo obras muito simples para públicos muito simples, apresentações ao ar livre em praça pública na Vila Zelina, na Vila Prudente… Alguns anos mais tarde, regi a Filarmônica de Nova York no Central Park para noventa mil pessoas, e não posso dizer que reger a Filarmônica de Nova York para noventa mil pessoas tenha sido mais importante, melhor ou mais gostoso do que reger um grupo de jovens amadores na Vila Zelina. Não! Tive o mesmo prazer, o prazer de fazer algo bem feito e de poder deixar uma marca nas pessoas que estão tocando e ouvindo. Não vai fazer muita diferença se eu estiver aqui, no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto, em Calgary ou em outra cidade. Quando eu saio do palco e aquela sinfonia de Brahms foi muito bem tocada, fez jus àquela grande partitura, é uma sensação de missão cumprida.
VM: Você está sempre rodeado de gente. Quem são os seus amigos? Família é família, e você está sempre presente; mas quem são as pessoas com que você conta?
Quem são meus amigos? Você sabe muito bem que é a minha melhor amiga! O Joshua, meu filho, é o meu melhor amigo. Tenho conversas com ele – conversas curtas demais! -, mas falo com ele, explico-lhe algumas coisas pelas quais estou passando, e ele me conta coisas dele, depois oramos juntos e lemos a Bíblia. Sinto que ganhei o dia quando fazemos isso! Não existe coisa semelhante à relação entre pai e filho, porque é um amor incondicional. E com você igualmente, que é minha esposa; temos um vínculo já de vários anos…
De resto, sou uma pessoa de alguns poucos amigos. O Hugo, por exemplo, o irmão da Valéria, é o meu melhor amigo: posso ligar para ele a qualquer hora da noite, ou posso também ficar meses sem falar com ele, e quando nos falamos não mudou nada. Ele não precisa de mim para nada, não tem nenhum interesse, e eu também não tenho. Somos amigos porque nos respeitamos, gostamos um do outro, e vamos ser amigos para sempre.
O Sr. Armando, que é a pessoa com quem fui morar quando fui para os Estados Unidos, é outro grande amigo. Também é uma pessoa com quem posso ficar um ano sem falar, mas quando eu chego lá nada mudou, sempre tem um conselho dos mais sábios à disposição. Sei do carinho e do amor que ele tem por mim, e vice-versa.
É uma amizade, são amizades que construí com muito tempo, porque não sou uma pessoa fácil: sou bastante esquisito às vezes, sou um pouco aéreo, não dou atenção imediata para ninguém, deixo-me absorver completamente pelo trabalho e pela música. Também não sou uma pessoa de muito contato físico, de abraçar – não! As minhas amizades são amizades que crescem aos poucos.
Perdi tragicamente o meu melhor amigo, uma pessoa que eu realmente amava, e sinto-me como se tivesse perdido um braço; perdi uma parte de mim quando essa pessoa foi embora. Era o Reginaldo, também um cunhado, casado com a minha irmã. Ele morreu em um acidente de carro quando tinha trinta e três anos de idade; era seis anos mais velho do que eu, e me ficou um buraco. Esse é um amigo, porque até hoje penso nele praticamente todos os dias. O meu único consolo é que sei que vou encontrá-lo novamente um dia. Sei disso como tenho certeza de que isto aqui é um café que vou tomar. Assim: vou encontrá-lo. Vou encontrar-me com o Reginaldo um dia, e olhá-lo novamente nos olhos.
Roberto Minczuk é diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira e da Filarmônica de Calgary, e diretor artístico do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Dentre os prêmios que recebeu nos últimos anos estão o Martin Segall; o Grammy Latino de Melhor Álbum Clássico, com o CD Jobim Sinfônico; o Emmy e o APCA como Melhor Regente de 2006. Com a Filarmônica de Londres, gravou obras de Ravel, Piazzolla, Martin e Tomasi, e com a Sinfônica do Estado de São Paulo, a integral das Bachianas brasileiras e outro CD dedicado a danças brasileiras.
Guilherme Malzoni Rabello é engenheiro naval, tem doutorado em Neurociência pela Universidade Federal de São Paulo(2014), pós-doutorado pela New York University (2016) e é membro do IFE.
NOTAS:
[1] Em música, a memória auditiva capaz de reconhecer as notas pela freqüência de vibração do som (altura).
[2] A famosa cantata de Carl Orff, elaborada a partir de um conjunto de canções medievais em latim vulgar e dialeto alemão medieval, chamada Carmina Burana (“canções de Beuren”) porque os manuscritos originais provêm do mosteiro de Bene-diktbeuren, na Baviera. Os autores anônimos dessas canções parecem ter sido na sua maioria goliardos, isto é, estudantes universitários mais assíduos na taverna que em sala de aula… A seleção feita por Orff pretende ser uma parábola da vida humana: principia pelo símbolo da “roda da fortuna”, expressão do destino cego que ora ergue o homem, ora o lança na lama; exalta a natureza, os prazeres e o vinho, e o amor fútil; e termina novamente por um apelo à Fortuna.
* Entrevista publicada originalmente na revista-livro do Instituto de Formação e Educação (IFE), Dicta&Contradicta, Edição 2, Dezembro de 2008.