

Caso alguém se interesse em saber o que é “verso livre”, a resposta possível será: “É o verso não metrificado”, ou seja, definição pela negativa, definição que não define, que no entanto parecerá suficiente, enquanto registro simbólico de certos fatos, certa história. Que fatos? Que história? A história segundo a qual, ao longo de séculos, tratadistas dedicaram-se com afinco à codificação do verso metrificado, até que, na virada do século XIX para o XX, este foi dado como obsoleto e sumariamente abolido. Desde então, “verso livre” tem sido moeda franca, a ponto de poucos julgarem pertinente buscar, para o fato, uma definição que, em vez de negar, afirme. É que isso equivaleria a caminhar no encalço de um “Tratado de não-versificação”, rival daquele famoso, assinado pelo príncipe dos nossos poetas. Será que os poetas de hoje precisariam de um manual que lhes ensinasse a não metrificar? Mas só o nonsense de um tratado de não-versificação permitiria enfrentar o dilema que é lidar com algo cuja definição ou conceito ignoramos.
Comecemos por indagar: “livre” de quê? Da métrica, já se vê, ou da lei tirânica que subordina os versos ao capricho de um número pré-determinado de sílabas, umas tônicas, outras átonas, não arbitrariamente, mas cada qual no seu devido lugar. Mesmo desobrigado de tais regras, verso livre continua a ser verso, do qual é só mais uma modalidade ou variante. Mas se tanto versos como não-versos podem igualmente abrigar “poesia”, somos forçados a concluir que esta tem pouco a ver com um e outro. A tradição estaria inteiramente equivocada ao atrelar (para o sim e para o não) poesia e verso.
Para os tratadistas ortodoxos, o que se deu foi exatamente a morte da poesia, segundo o pressuposto de que esta se confunde com “metrificação”. Mas o verso liberado de medidas pré-estabelecidas não foi rebeldia passageira e acabou por prevalecer, de modo que, mais de um século depois, já não há quem defenda a idéia de que verso livre seja sinônimo de não-poesia. Para a maioria de poetas, leitores, críticos e estudiosos em geral, no mundo moderno, o verso livre é um verso genuíno e legitimado. Se assim é, a dúvida passa a ser outra: como distinguir entre verso livre e não-verso? O fato é que, quando topamos com “verso livre”, damos excessiva importância ao adjetivo e descuramos do substantivo. Maliciosamente modernos, sabemos bem que verso não é ou não deve ser apenas determinado número de sílabas. Isso nos obriga a indagar: “Então, que é verso?”.
Apesar de inviável, a hipótese de um tratado de não-versificação poderia lançar alguma luz. Que tratado seria esse? A resposta é simples: o mapeamento geral dos tipos e espécies de “verso livre”, tal como tem sido praticado, seja pelos poetas que aderiram à novidade, na virada do XIX para o XX, seja pelos seus sucessores, que o foram adotando, em escala crescente, geração após geração. Ao fim, constataríamos o óbvio: longe de ser um fenômeno padronizado, o verso livre adquire feições peculiares em cada poeta, e por vezes em livros ou poemas do mesmo poeta… a não ser que nosso tratado detectasse padrões recorrentes, partilhados por “famílias” de poetas… Neste caso, chegaríamos a dizer que os poetas modernos são tão apegados a escolas, modelos e modismos como os antigos?
O que podemos saber é que o mapeamento daria atenção, em primeiro lugar, aos pioneiros, que em sua maioria começaram por versificar à maneira tradicional, em seguida rebelaram-se contra o espartilho da forma e mais tarde, em grande número, voltaram a contar as sílabas e a ordenar, disciplinadamente, aqui as tônicas, ali as átonas. Em seguida, localizaria os sucessores, que já não tinham mais de que se libertar, já que seus versos nascem alforriados. E teríamos ainda, além dos casos intermediários, os que tomaram ao pé da letra e radicalizaram o espírito libertário, passando a chamar “verso” (livre, não é verdade? [1]) a qualquer ajuntamento de palavras, arbitrariamente jogadas no papel. “Verso livre” correu sempre o risco de servir de álibi a verso frouxo, embora o bem medido e escandido, à moda antiga, nunca tenha servido de antídoto contra a frouxidão.
Nosso tratado mostraria, enfim, que a prática do verso, “preso” ou livre, implica sempre um fazer deliberado, intencional, subordinado à vontade criadora; e que “espontaneidade” ou “naturalidade” podem ser princípios desejáveis na vida cotidiana, mas não têm espaço quando se trata de arte (artefato, artesanato, artifício), compromisso a que a nenhum verso é dado furtar-se.
II
“Verso” provém do latim versus, que por sua vez deriva do particípio passado de vertere (voltar, virar, desviar), e significa linha, fileira, renque. Na origem, o termo se aplica à ação do arado, no cultivo da terra (Virgílio: In versum distulit ulmos, “Plantou olmeiros em linha”), mas é aplicável também, já agora como adjetivo, a um tipo especial de discurso, a poesia, que se interrompe a intervalos regulares, e volta, e torna a se interromper, e torna a voltar, em movimentos sucessivos, formando igualmente linhas, renques ou alamedas (Apuleio: Versa oratio, “Poesia”, simplesmente; ao pé da letra, “oração virada ou desviada”) [2]. Tais “viradas” resultam da intervenção do poeta, que impõe ao discurso um andamento determinado pelas sonoridades, as pausas, as cadências; pelo ritmo geral das orações, em suma, e não pelo fluxo lógico-ideativo, como é o caso da prosa.
“Verso” é, pois, um fato de vigência predominantemente acústico-auditiva, massa sonora, sucessão de vozes ou sílabas, deliberadamente arranjadas pelo poeta, segundo algum propósito “artístico” bem definido, ao qual o “conteúdo” deve estar subordinado. Acresce que a prosódia latina conhecia dois tipos de sílabas, as longas e as breves, assim consideradas em razão da quantidade ou da duração, questão de tempo – noção que, na passagem para as línguas modernas, se perdeu ou se diluiu, sendo substituída pela de intensidade: sílabas tônicas (fortes) ou átonas (fracas). Em razão disso, nossa versificação, assim como nossa não-versificação, é meramente silábica. A sílaba é, para nós, a unidade mínima, formadora da estrutura do verso, daí nossa preocupação excessiva com a aritmética, insuficiente para dar conta do ritmo, aspecto mais decisivo do que o simples número, na estruturação do verso. Não assim na versificação latina.
Para gregos e romanos, o número de sílabas importava menos que a natureza dos subconjuntos formados pelas seqüências de duas ou três, em cada verso: uma longa e uma breve, ou vice-versa; duas breves, ou duas longas; uma breve, uma longa, outra breve; uma longa seguida de duas breves, ou duas breves seguidas de uma longa; e assim por diante. A essas seqüências dava-se o nome de “pés”, como os descritos acima (na ordem: troqueu, iambo, pirríquio ou díbraco, espondeu, anfibraco, dátilo e anapesto), e os versos se formavam da combinação de dois, três ou mais deles. Assim, a estrutura rítmica do verso, e do poema como um todo, era extremamente flexível, modulada por cadências que se prolongavam ou se encolhiam, com liberdade, para além ou para aquém da clave limitadora dos padrões mecanicamente repetidos da nossa metrificação baseada no número de sílabas e na intensidade.
Um breve exemplo talvez permita vê-lo, ou ouvi-lo, com a nitidez que a explanação teórica mal consegue sugerir. Ponhamos a atenção na primeira estrofe de “Abriu-se um cravo no mar”, do baiano Sosígenes Costa:
A noite vem do mar cheirando a cravo.
Em cima do dragão vem a sereia.
O mar espuma como um touro bravo
e como um cão morde a brilhante areia [3].
Os dois primeiros versos abrem com a mesma sucessão fraca+forte (a noi | te; em ci | ma), seguida de três sílabas fracas – compasso de espera que antecede a segunda pausa, imposta pela tônica (mar; dra | gão); fechando a sequência, outra série de três fracas, antes do acento final (cheirando a cra | vo; vem a serei | a). Repartida em três segmentos, a cadência é lenta, e isso parece ter o propósito de prolongar o instante mágico em que a noite surge sobre ou do mar, imagem a ser eternizada nas retinas, na sugestão de fluidez do cheiro a cravo e nas pausas forçadas pela estratégica posição das tônicas.
Compare-se tal efeito à cadência sutil mas firmemente distinta que comanda os versos três e quatro. Em ambos, a primeira pausa é afastada para a quarta sílaba (o mar espu | ma; e como um cão); esse movimento se repete em seguida, com outra série de três sílabas fracas mais uma forte, e, no fecho, uma breve sucessão fraca+forte (…ma como um tou | ro bra | vo; morde a brilhan | te arei | a).
Vale dizer os mesmos três segmentos dos versos anteriores, invertida a ordem (2+4+4 e 4+4+2), o que torna a cadência ligeiramente mais acelerada, para dar representação à pressa com que é preciso livrar-se primeiro do dragão, depois da sereia, em seguida do touro, do cão e da areia – elementos intrusos, figurações paralelas, que vieram intrometer-se no âmago da tríade que forma a imagem-alvo (noite, mar, cravo), à qual cumpre voltar, com alguma urgência. Por isso a estrofe seguinte, omitida acima, abre com o mesmo verso inicial do poema, repetido ad litteram.
Teria sido mais fácil constatar que se trata de versos decassílabos, os dois primeiros (“clássicos”) com acento na 2ª, 6ª e 10ª sílabas; os outros dois (“sáficos”) com acento na 4ª, 8ª e 10ª. Mas com isso teríamos a atenção desviada para o número de sílabas e perderíamos a noção (acústica) de cadência, compasso, modulação; perderíamos, em suma, oritmo, significativamente distinto em uns e outros. Embora o metro seja o mesmo, trata-se de cadências peculiares, casadas com os sentidos específicos que os versos transmitem.
Estamos lidando, assim, antes de mais nada, com massas sonoras e não com representações visuais, daí então que essa falsa unidade chamada “verso” (artifício criado principalmente para o olho, com o prestimoso endosso da rima) poderia ser substituída, com vantagem, por outra espécie de unidade, os segmentos de sílabas arranjadas como subconjuntos, à semelhança dos “pés” da métrica latina, vale dizer as “células métricas”, na terminologia proposta por Cavalcanti Proença [4],
realidades acústicas bem marcadas, formadoras do verdadeiro ritmo do poema, só captável pelo ouvido, não pelo olho viciado em contar sílabas nas pontas dos dedos.
Mas, dirá o leitor atento, esses versos de Sosígenes Costa são metrificados. E o verso livre, alvo de nossa especulação – como fica? A resposta será: não fica. Bem vistas (e ouvidas) as realidades com que lidamos, a conclusão é inevitável: não há diferença substancial entre verso livre e verso metrificado, salvo a regularidade deste e a irregularidade daquele. Um e outro são formados pelas mesmas breves sucessões de duas, três e eventualmente quatro sílabas, responsáveis pelo ritmo, que não poderia ser dado pela mera repetição do total de sete, dez ou quantas sílabas tenha cada verso.
Para além do número de sílabas, e suas combinações, o que de fato conta é o ritmo, que resulta sempre da integração, às vezes harmoniosa, às vezes áspera, entre estrato sonoro, estrato semântico, modulação emocional e articulação sintática, que comandam, em regime colegiado, as palavras (sílabas, vozes) escolhidas pelo poeta – do mais conservador ao mais rebelde – para dar expressão à sua visão de mundo. De fato, a métrica está longe de garantir a presença da poesia. Qualquer fieira de palavras, extraída da prosa mais banal, pode ser tecnicamente escandida, e ali encontraremos as mesmas combinações de sílabas fracas e fortes, em número variável [5], mas não teremos a integração dos vários estratos, acima lembrada. No verso livre, tal como na prosa, a uniformidade não é considerada, a assimetria prevalece e não há padrões repetitivos – a não ser que nosso tratado de não-versificação chegasse a detectá-los… Verso livre, então, é o mesmo que prosa, vale dizer não-poesia? Em absoluto. O breve exercício em torno dos decassílabos de Sosígenes Costa deve tê-lo demonstrado.
III
Dizer de um poeta que é um exímio artesão ou que tem excelente domínio técnico é quase um insulto. Se não traduzir um simplório entendimento do que seja poesia, a observação esconderá um juízo severo: é um mau poeta, conhece algumas fórmulas e receitas mas não sabe bem o que fazer com elas e usa-as como fim em si. Mas isso não deixa de gerar ambigüidades e mal-entendidos, já que o bom poeta é, de fato, sempre, um exímio artesão, exímio a ponto de fazer que isso passe despercebido. O fato é que a recíproca não é verdadeira.
Observe-se o fecho do poema “Lembrança rural”, de Cecília Meireles:
Flores molhadas. Última abelha. Nuvens gordas.
Vestidos vermelhos, muito longe, dançam nas cercas.
Cigarra escondida, ensaiando na sombra rumores
de bronze.
Debaixo da ponte, a água suspira, presa…
Vontade de ficar neste sossego toda a vida:
bom para ver de frente os olhos turvos das palavras,
para andar à toa, falando sozinha, enquanto as formigas caminham nas árvores [6].
A métrica é irregular, mas há um esboço de uniformidade (estrofes de quatro versos, rimas toantes), isto é, algum senso de ordem e disciplina, em meio à descontração do olhar devaneante, que passeia pela paisagem – e na segunda estrofe esse olhar se voltará para dentro, em sintonia com a variação do jogo das formas e a mudança de ritmo. “Flores molhadas. Última abelha. Nuvens gordas”: três pausas fortes, bem demarcadas. No restante da primeira estrofe, os versos mantêm o mesmo arranjo tripartite mas perdem o andamento sincopado do inicial, ganhando uma fluidez que atinge sua expressão máxima, reforçada pela ausência de sinais de pontuação, na abertura da segunda estrofe: “Vontade de ficar neste sossego toda a vida”. Repare-se que esse verso-chave esconde em seu recesso um legítimo alexandrino: após uma breve pausa inicial (vonta | de), segue-se uma suave sucessão de três vezes quatro sílabas, em sequências regulares de três fracas e uma forte: “…de de ficar | neste sosse | go toda a vi | da”. Verifica-se, afinal, que a cadência ternária da primeira estrofe cede lugar, na segunda, a largos movimentos, emblemáticos do encontro daquele olhar devaneante consigo mesmo: a paisagem exterior devém estado de espírito.
Alguém imaginaria que tão bem engendrados recursos técnicos são fruto da inspiração ou do acaso? O leitor ingênuo, talvez, mas os demais saberão que tais expedientes foram recolhidos da tradição versificatória e retrabalhados com liberdade pela escritora, que, graças a seu elevado saber de ofício, faz com que estes passem despercebidos. Criado o poema, o leitor pode então desfrutar da mágica experiência da espontaneidade e do acaso… convincentemente encenada.
O fato de o leitor ingênuo imaginar o ato criador como espontâneo brotar de “inspirações” não causa grande mal aos destinos da poesia: mais cedo ou mais tarde, os mais atentos acabam por perceber o que se passa. Mal bem maior resulta do grande número de poetas que endossam esse simplório entendimento, apegando-se à suposta “facilidade” do verso livre. Tais poetas ignoram advertências como a de um Geir Campos, para quem o verso livre deixa “o poeta numa espécie de regime de livre-arbítrio muitas vezes mais árduo que a aparente dificuldade das formas convencionais” [7].
Antes da rebeldia dos pioneiros, o amplo arsenal versificatório à disposição dos poetas, com sua inumerável variedade de células métricas, andamentos e cadências, é predominantemente regular e uniforme. Mas longe de significar idiossincrasia ou imposição arbitrária, as antigas formas fixas, em seu conjunto e em seu espírito genuíno, valem como representação metafórica de um mundo estável. Tais formas já contêm em si uma visão de mundo. O poeta anterior à rebeldia verseja, rima e conta as sílabas, para conferir à sua criação o status simbólico de microuniverso coeso, na medida em que acredita estar inserido em (e integrado a) um universo igualmente ordenado e coeso. O poeta moderno, por sua vez, “condenado” a usufruir da suposta liberdade do versilibrismo, continua a metrificar, e até a rimar, e a escandir e a acentuar, servindo-se basicamente das mesmas células métricas tradicionais (cujo limite é a própria língua), à procura dos mesmos ritmos integradores dos vários estratos de sua fala, já agora em regime de irregularidade, assimetria e imprevisibilidade, para dar representação metafórica a um mundo analogamente irregular e heterogêneo, instável, esvaziado de qualquer valor ou verdade inquestionáveis. A pluralidade das formas já é, em si, figuração de outra visão de mundo.
O verso livre, afinal, faz parte de um amplo pacote de rebeldias e insurreições [8] que, na virada do século XIX para o XX (nas artes, na literatura, na política, nas ciências, no comércio, na guerra e em tudo o mais), desabou sobre a sociedade, como um bólido que se expande e se multiplica, até os nossos dias, imprimindo à vida contemporânea um ritmo cada vez mais acelerado – espasmos aparentemente revolucionários, cada vez menos espaçados, no encalço da Grande Revolução libertária, que vem sendo sonhada há mais de duzentos anos. Nesse quadro, o que pudesse haver de insurreição no verso livre reduziu-se, há muito, a um pequeno jogo inofensivo, tão forte é a relação de dependência que a ousadia versificatória mantém com a tradição da qual pretende, mas na verdade não quer nem teria como se livrar. Em 1917, a afirmação com que T.S. Eliot encerra suas reflexões sobre vers libre talvez soasse como excentricidade ou provocação. Hoje, passado quase um século, será apenas um lembrete, objetivo e isento, quase neutro, a apontar para uma verdade de que há décadas estamos cansados de saber, mas às vezes esquecemos, ou simulamos ignorar, segundo a qual “a divisão entre verso conservador e vers libre não existe; só o que existe é bom verso, mau verso e caos” [9].
Carlos Felipe Moisés é poeta (Noite nula, 2008), ensaísta (Poesia e utopia, 2007) e tradutor (O poder do mito, 1990). Seu livro Conversa com Fernando Pessoa (2007) recebeu recentemente o Selo de Qualidade da FNLIJ, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É mestre e doutor em letras clássicas pela USP.
[1] Já em 1917, T. S. Eliot advertia: “Vers libre é um grito de guerra em nome da liberdade, mas em arte não existe liberdade” (“Reflections on Vers Libre”, ed. cit., p. 184). Décadas depois, a advertência será reforçada por William Carlos Williams: “Sendo uma forma de arte, o verso não pode ser ‘livre’, não no sentido de que não tenha limitações ou princípios norteadores”. (Verbete “Free verse”, in Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, org. Alex Preminger, Princeton, Princeton University Press, 1974, p. 289).
[2] F.R. dos Santos Saraiva, Novíssimo diccionario latino-portuguez (Rio de Janeiro, Garnier, 1924, p. 1268).
[3] S. Costa, Obra poética (Rio de Janeiro, Leitura, 1959, p. 20).
[4] M.C. Proença, Ritmo e poesia (Rio de Janeiro, Organizações Simões, 1955, p. 17).
[5] “Qualquer linha pode ser dividida em pés e acentos, até o pior dos versos pode ser escandido” (T.S. Eliot, “Reflections on Vers Libre”, ed. cit., pp. 185 e 189).
[6] C. Meireles, Obra poética (2ª ed., Rio de Janeiro, Aguilar, 1967, p. 191).
[7] G. Campos, Pequeno dicionário de arte poética (Rio de Janeiro, Conquista, 1960, p. 120).
[8] W.C. Williams observa, não sem ironia, que “o verso livre […] tem sido frequentemente descrito, embora nem sempre, como intrinsecamente ‘democrático’ ou até revolucionário” (Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ed. cit., p. 289).
[9] T.S. Eliot, “Reflections on Vers Libre”, ed. cit., p. 189.
Artigo publicado originalmente na revista-livro do IFE, Dicta&Contradicta, Edição 4, Dezembro de 2009.
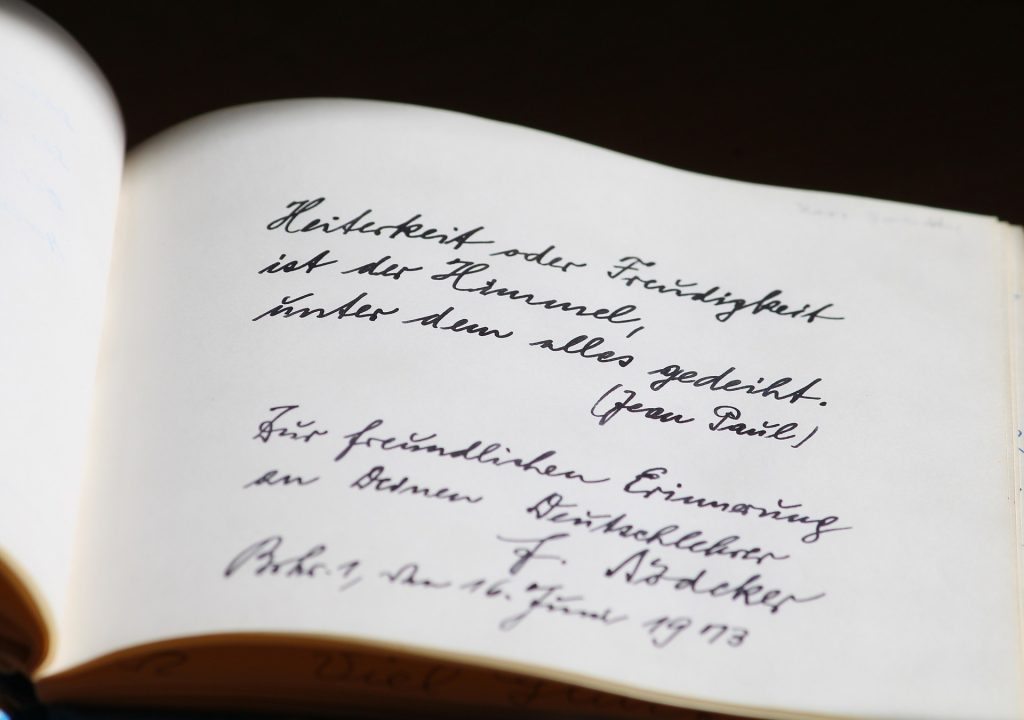



 Tinham-me recomendado o livro; várias vezes, e de fontes confiáveis. Mas o formato digital da obra do premiado escritor cubano, não acabava de me convencer. Menos ainda por tratar-se da versão portuguesa. Quando consigo ler os livros na língua original -o que muitas vezes não é possível para quem não é poliglota- declino as traduções. Anotei entre as pendências e na primeira ocasião que tive, entrei num sebo em Madrid. “Os livros de Padura duram pouco aqui. Vendem-se mal entram”. O comentário do livreiro bastou para me dirigir diretamente à Casa do Livro, pois o tinha localizado previamente no catálogo. Não o encontrei entre os autores de língua espanhola e perguntei ao atendente. Ele certificou-se de que efetivamente estava na relação e foi descobri-lo numa prateleira dedicada às “Narrativas Negras”, enquanto eu me perguntava o motivo de tal classificação. Uma ficção “noir”? Eu tinha entendido que se tratava de um episódio histórico. Curiosidade que demorei pouco em satisfazer.
Tinham-me recomendado o livro; várias vezes, e de fontes confiáveis. Mas o formato digital da obra do premiado escritor cubano, não acabava de me convencer. Menos ainda por tratar-se da versão portuguesa. Quando consigo ler os livros na língua original -o que muitas vezes não é possível para quem não é poliglota- declino as traduções. Anotei entre as pendências e na primeira ocasião que tive, entrei num sebo em Madrid. “Os livros de Padura duram pouco aqui. Vendem-se mal entram”. O comentário do livreiro bastou para me dirigir diretamente à Casa do Livro, pois o tinha localizado previamente no catálogo. Não o encontrei entre os autores de língua espanhola e perguntei ao atendente. Ele certificou-se de que efetivamente estava na relação e foi descobri-lo numa prateleira dedicada às “Narrativas Negras”, enquanto eu me perguntava o motivo de tal classificação. Uma ficção “noir”? Eu tinha entendido que se tratava de um episódio histórico. Curiosidade que demorei pouco em satisfazer.
 A tertúlia literária mensal oferece a possibilidade de poder reler os clássicos, desfrutar com eles, continuar aprendendo. Desta vez o convocado foi Balzac, o que significa um mergulho vital nas paixões humanas. Todas, descritas com minúcia, encontram-se em Balzac –dizia-me certa vez um amigo. E assim é, independentemente de onde o escritor francês situe a ação. Na corte, entre os aristocratas ou, como o caso que nos ocupa, nas províncias, lá onde encontramos “existências tranquilas na superfície, e devastadas secretamente por tumultuosas paixões”, e onde “uma moça não põe a cabeça à janela sem ser vista por todos os grupos desocupados”.
A tertúlia literária mensal oferece a possibilidade de poder reler os clássicos, desfrutar com eles, continuar aprendendo. Desta vez o convocado foi Balzac, o que significa um mergulho vital nas paixões humanas. Todas, descritas com minúcia, encontram-se em Balzac –dizia-me certa vez um amigo. E assim é, independentemente de onde o escritor francês situe a ação. Na corte, entre os aristocratas ou, como o caso que nos ocupa, nas províncias, lá onde encontramos “existências tranquilas na superfície, e devastadas secretamente por tumultuosas paixões”, e onde “uma moça não põe a cabeça à janela sem ser vista por todos os grupos desocupados”.